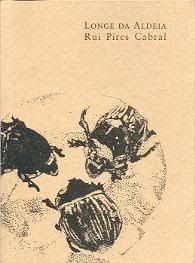 A poesia de Rui Pires Cabral (n. 1967) ocupa um lugar curioso no panorama da chamada nova poesia portuguesa. Representado na antologia Anos 90 e Agora, organizada por Jorge Reis-Sá, aparece igualmente em Poetas Sem Qualidades, conjunto de menor fôlego da responsabilidade de Manuel de Freitas. A façanha apenas se repete com Ana Paula Inácio. Aliás, Manuel de Freitas é o editor da Averno que agora edita este Longe da Aldeia e já havia editado anteriormente, do mesmo autor, Praças e Quintais (2003). Rui Pires Cabral começou a publicar em 1994, em edição de autor, mas o livro que lhe trouxe alguma visibilidade foi Música Antológica & Onze Cidades (Presença, 1997). Relativamente aos poemas incluídos nessa obra, parece-me que Longe da Aldeia não acrescenta nada. As coordenadas desta poesia estão traçadas: a memória dos lugares, das situações, um certo desassossego existencial, o exercício da poesia como «um treino de morrer e de estar morto». Neste sentido, o poeta coloca-se na posição do condenado que se dedica à poesia tal como Sócrates se dedicava à filosofia. As perguntas sucedem-se uma atrás das outras: «Mas há uma saída?» (p. 10), «(…) não terá sido afinal inútil / tudo o que fizeste na vida?» (p. 11), «(…) parece-me estranho / que a minha vida possa ser / este impreciso modo de sentir. / O quê, ao certo?» (p. 24) No entanto, não pode ser dito que esta é uma poesia reflexiva, no sentido filosófico do termo. O mais prudente é mesmo não a classificarmos, partirmos para a sua leitura sem qualquer tido de preconceito e notando apenas as pistas que ela nos lança. No caso, o sentimento de distância. Tanto de uma distância espacial, como de uma distância no tempo. Não que uma condicione a outra, mas, sem dúvida, uma (a espacial) remete para a outra (a temporal). A primeira parte de Longe da Aldeia intitula-se O Coração da Inglaterra. As ruas, os bares, os cafés, os lugares, os labirintos de Inglaterra, aparecem nos poemas como a terra de onde irrompem as dúvidas, num percurso que cria pontes tão naturais quão subtis entre o vivido e o pensado: «Sim, o amor é triste e o mundo / é árduo e nunca nos serviu como convinha. Mas / nas cercanias da vila, no Volkswagen em segunda / mão, vê como resplandecem os vidros de Marlborough / Drive ao entardecer! Uma ambição sentimental // à nossa pequena escala, prados entre castanheiros, / duas onças de tabaco de enrolar. Que importa / que tudo rode para um fim e que a nossa verdadeira / condição seja morrer um pouco mais a cada instante?» (p. 19) Arrisco afirmar que a maioria destes poemas só o é por acaso. Eles poderiam ser lidos como pequenas prosas poéticas ou pequenos poemas em prosa, que em nada perderiam do seu sentido. A segunda parte deste livro, Cidade dos Desaparecidos, reúne um conjunto de poemas bem menos interessante. A situação quotidiana, urbana, continua a dar o mote, mas a memória fala mais alto. Os poemas aparecem como indefiníveis regressos a uma solidão que se partilha (ver, a este respeito, o poema Não Há Outro Caminho). O problema é que tudo se torna muito mais previsível, quando às questões iniciais/fundamentais se faz sobrepor esta única e tão (re)batida questão: «lembras-te de como era?»
A poesia de Rui Pires Cabral (n. 1967) ocupa um lugar curioso no panorama da chamada nova poesia portuguesa. Representado na antologia Anos 90 e Agora, organizada por Jorge Reis-Sá, aparece igualmente em Poetas Sem Qualidades, conjunto de menor fôlego da responsabilidade de Manuel de Freitas. A façanha apenas se repete com Ana Paula Inácio. Aliás, Manuel de Freitas é o editor da Averno que agora edita este Longe da Aldeia e já havia editado anteriormente, do mesmo autor, Praças e Quintais (2003). Rui Pires Cabral começou a publicar em 1994, em edição de autor, mas o livro que lhe trouxe alguma visibilidade foi Música Antológica & Onze Cidades (Presença, 1997). Relativamente aos poemas incluídos nessa obra, parece-me que Longe da Aldeia não acrescenta nada. As coordenadas desta poesia estão traçadas: a memória dos lugares, das situações, um certo desassossego existencial, o exercício da poesia como «um treino de morrer e de estar morto». Neste sentido, o poeta coloca-se na posição do condenado que se dedica à poesia tal como Sócrates se dedicava à filosofia. As perguntas sucedem-se uma atrás das outras: «Mas há uma saída?» (p. 10), «(…) não terá sido afinal inútil / tudo o que fizeste na vida?» (p. 11), «(…) parece-me estranho / que a minha vida possa ser / este impreciso modo de sentir. / O quê, ao certo?» (p. 24) No entanto, não pode ser dito que esta é uma poesia reflexiva, no sentido filosófico do termo. O mais prudente é mesmo não a classificarmos, partirmos para a sua leitura sem qualquer tido de preconceito e notando apenas as pistas que ela nos lança. No caso, o sentimento de distância. Tanto de uma distância espacial, como de uma distância no tempo. Não que uma condicione a outra, mas, sem dúvida, uma (a espacial) remete para a outra (a temporal). A primeira parte de Longe da Aldeia intitula-se O Coração da Inglaterra. As ruas, os bares, os cafés, os lugares, os labirintos de Inglaterra, aparecem nos poemas como a terra de onde irrompem as dúvidas, num percurso que cria pontes tão naturais quão subtis entre o vivido e o pensado: «Sim, o amor é triste e o mundo / é árduo e nunca nos serviu como convinha. Mas / nas cercanias da vila, no Volkswagen em segunda / mão, vê como resplandecem os vidros de Marlborough / Drive ao entardecer! Uma ambição sentimental // à nossa pequena escala, prados entre castanheiros, / duas onças de tabaco de enrolar. Que importa / que tudo rode para um fim e que a nossa verdadeira / condição seja morrer um pouco mais a cada instante?» (p. 19) Arrisco afirmar que a maioria destes poemas só o é por acaso. Eles poderiam ser lidos como pequenas prosas poéticas ou pequenos poemas em prosa, que em nada perderiam do seu sentido. A segunda parte deste livro, Cidade dos Desaparecidos, reúne um conjunto de poemas bem menos interessante. A situação quotidiana, urbana, continua a dar o mote, mas a memória fala mais alto. Os poemas aparecem como indefiníveis regressos a uma solidão que se partilha (ver, a este respeito, o poema Não Há Outro Caminho). O problema é que tudo se torna muito mais previsível, quando às questões iniciais/fundamentais se faz sobrepor esta única e tão (re)batida questão: «lembras-te de como era?»quarta-feira, 22 de junho de 2005
LONGE DA ALDEIA
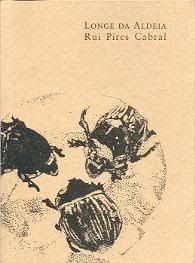 A poesia de Rui Pires Cabral (n. 1967) ocupa um lugar curioso no panorama da chamada nova poesia portuguesa. Representado na antologia Anos 90 e Agora, organizada por Jorge Reis-Sá, aparece igualmente em Poetas Sem Qualidades, conjunto de menor fôlego da responsabilidade de Manuel de Freitas. A façanha apenas se repete com Ana Paula Inácio. Aliás, Manuel de Freitas é o editor da Averno que agora edita este Longe da Aldeia e já havia editado anteriormente, do mesmo autor, Praças e Quintais (2003). Rui Pires Cabral começou a publicar em 1994, em edição de autor, mas o livro que lhe trouxe alguma visibilidade foi Música Antológica & Onze Cidades (Presença, 1997). Relativamente aos poemas incluídos nessa obra, parece-me que Longe da Aldeia não acrescenta nada. As coordenadas desta poesia estão traçadas: a memória dos lugares, das situações, um certo desassossego existencial, o exercício da poesia como «um treino de morrer e de estar morto». Neste sentido, o poeta coloca-se na posição do condenado que se dedica à poesia tal como Sócrates se dedicava à filosofia. As perguntas sucedem-se uma atrás das outras: «Mas há uma saída?» (p. 10), «(…) não terá sido afinal inútil / tudo o que fizeste na vida?» (p. 11), «(…) parece-me estranho / que a minha vida possa ser / este impreciso modo de sentir. / O quê, ao certo?» (p. 24) No entanto, não pode ser dito que esta é uma poesia reflexiva, no sentido filosófico do termo. O mais prudente é mesmo não a classificarmos, partirmos para a sua leitura sem qualquer tido de preconceito e notando apenas as pistas que ela nos lança. No caso, o sentimento de distância. Tanto de uma distância espacial, como de uma distância no tempo. Não que uma condicione a outra, mas, sem dúvida, uma (a espacial) remete para a outra (a temporal). A primeira parte de Longe da Aldeia intitula-se O Coração da Inglaterra. As ruas, os bares, os cafés, os lugares, os labirintos de Inglaterra, aparecem nos poemas como a terra de onde irrompem as dúvidas, num percurso que cria pontes tão naturais quão subtis entre o vivido e o pensado: «Sim, o amor é triste e o mundo / é árduo e nunca nos serviu como convinha. Mas / nas cercanias da vila, no Volkswagen em segunda / mão, vê como resplandecem os vidros de Marlborough / Drive ao entardecer! Uma ambição sentimental // à nossa pequena escala, prados entre castanheiros, / duas onças de tabaco de enrolar. Que importa / que tudo rode para um fim e que a nossa verdadeira / condição seja morrer um pouco mais a cada instante?» (p. 19) Arrisco afirmar que a maioria destes poemas só o é por acaso. Eles poderiam ser lidos como pequenas prosas poéticas ou pequenos poemas em prosa, que em nada perderiam do seu sentido. A segunda parte deste livro, Cidade dos Desaparecidos, reúne um conjunto de poemas bem menos interessante. A situação quotidiana, urbana, continua a dar o mote, mas a memória fala mais alto. Os poemas aparecem como indefiníveis regressos a uma solidão que se partilha (ver, a este respeito, o poema Não Há Outro Caminho). O problema é que tudo se torna muito mais previsível, quando às questões iniciais/fundamentais se faz sobrepor esta única e tão (re)batida questão: «lembras-te de como era?»
A poesia de Rui Pires Cabral (n. 1967) ocupa um lugar curioso no panorama da chamada nova poesia portuguesa. Representado na antologia Anos 90 e Agora, organizada por Jorge Reis-Sá, aparece igualmente em Poetas Sem Qualidades, conjunto de menor fôlego da responsabilidade de Manuel de Freitas. A façanha apenas se repete com Ana Paula Inácio. Aliás, Manuel de Freitas é o editor da Averno que agora edita este Longe da Aldeia e já havia editado anteriormente, do mesmo autor, Praças e Quintais (2003). Rui Pires Cabral começou a publicar em 1994, em edição de autor, mas o livro que lhe trouxe alguma visibilidade foi Música Antológica & Onze Cidades (Presença, 1997). Relativamente aos poemas incluídos nessa obra, parece-me que Longe da Aldeia não acrescenta nada. As coordenadas desta poesia estão traçadas: a memória dos lugares, das situações, um certo desassossego existencial, o exercício da poesia como «um treino de morrer e de estar morto». Neste sentido, o poeta coloca-se na posição do condenado que se dedica à poesia tal como Sócrates se dedicava à filosofia. As perguntas sucedem-se uma atrás das outras: «Mas há uma saída?» (p. 10), «(…) não terá sido afinal inútil / tudo o que fizeste na vida?» (p. 11), «(…) parece-me estranho / que a minha vida possa ser / este impreciso modo de sentir. / O quê, ao certo?» (p. 24) No entanto, não pode ser dito que esta é uma poesia reflexiva, no sentido filosófico do termo. O mais prudente é mesmo não a classificarmos, partirmos para a sua leitura sem qualquer tido de preconceito e notando apenas as pistas que ela nos lança. No caso, o sentimento de distância. Tanto de uma distância espacial, como de uma distância no tempo. Não que uma condicione a outra, mas, sem dúvida, uma (a espacial) remete para a outra (a temporal). A primeira parte de Longe da Aldeia intitula-se O Coração da Inglaterra. As ruas, os bares, os cafés, os lugares, os labirintos de Inglaterra, aparecem nos poemas como a terra de onde irrompem as dúvidas, num percurso que cria pontes tão naturais quão subtis entre o vivido e o pensado: «Sim, o amor é triste e o mundo / é árduo e nunca nos serviu como convinha. Mas / nas cercanias da vila, no Volkswagen em segunda / mão, vê como resplandecem os vidros de Marlborough / Drive ao entardecer! Uma ambição sentimental // à nossa pequena escala, prados entre castanheiros, / duas onças de tabaco de enrolar. Que importa / que tudo rode para um fim e que a nossa verdadeira / condição seja morrer um pouco mais a cada instante?» (p. 19) Arrisco afirmar que a maioria destes poemas só o é por acaso. Eles poderiam ser lidos como pequenas prosas poéticas ou pequenos poemas em prosa, que em nada perderiam do seu sentido. A segunda parte deste livro, Cidade dos Desaparecidos, reúne um conjunto de poemas bem menos interessante. A situação quotidiana, urbana, continua a dar o mote, mas a memória fala mais alto. Os poemas aparecem como indefiníveis regressos a uma solidão que se partilha (ver, a este respeito, o poema Não Há Outro Caminho). O problema é que tudo se torna muito mais previsível, quando às questões iniciais/fundamentais se faz sobrepor esta única e tão (re)batida questão: «lembras-te de como era?»
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário