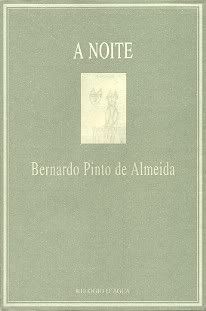 É um risco que por vezes corremos sem que grandes razões o justifiquem. Depois, procuramos remediar o erro com algum arrependimento na busca do tempo perdido. sem título (2002), livro de Bernardo Pinto de Almeida (n. 1954), não me tinha motivado qualquer interesse pela restante obra deste poeta estreado ainda na década de 80. Nem o nome de um autor serve de medida ao conjunto da sua obra, nem o conjunto da obra é a medida exacta do nome do autor. A questão é esta: por causa de um livro que não me agradou, desinteressei-me do resto. Este A Noite (Relógio D’Água, Janeiro de 2006) vem mudar tudo: pela densidade poética que propõe, pelo discurso arriscado e aglutinante, sobretudo pelo estranho prazer que a sua leitura convoca. Digo estranho porque o prazer que se retira da leitura deste livro não provém de um qualquer género de conforto. Antes pelo contrário, a poesia desta noite é desconfortável, inquietante, mas na exacta medida em que nos afirma sob o manto de uma sabedoria que não se impõe e, por isso mesmo, em momento algum se torna agressiva. A estruturação do livro em quatro partes, duas das quais agora republicadas (Depois que tudo recebeu o nome de Luz ou de Noite, 2002; Marin, 2005), leva-nos a pensar num esforço de organização tendo em vista um sentido de conjunto. Cada uma das partes, à excepção da terceira – um tudo nada diferente das restantes -, compõe-se de quatro fragmentos do que pode ser considerado um poema longo. Temos, logo a abrir, uma poesia em diálogo com os movimentos do mundo, marcada pela expressão de uma violência que se manifesta num tom ferido de ruína, crueldade e fadiga, onde a principal marca é a da ausência de uma segunda pessoa à qual o poeta se dirige. Mas esta segunda pessoa surge embaraçada num diálogo de imagens e vocábulos que pretende (e logra) confundir-nos: «Não há eternidade senão a desse instante / breve mas inexoravelmente persistente / de dois se amarem / sem vergonha ou respeito por mais nada / que não esse inesperado movimento que os transporta / para além de si mesmos - / e / meu Amor / até para além da terra que os seus corpos persistem em pisar / para além mesmo de toda a consideração pelo mundo - / pelas coisas do mundo: / por deus pátria família partido religião raça ciência – / o raio que os parta a todos - / crianças / gente esperando em silêncio a chegada do último comboio / os pobres perfilando-se para a esmola / ou as rodas inexoráveis que movem a finança / do surdo bater do dinheiro. Nada / senão isso: o teu corpo despindo-se na penumbra / o meu já aguardando o massacre / do encontro das bocas / da cona e da piça - / os sexos impacientes. // E tu: / eu apenas / e eu: / tu apenas» (p. 25). Vale a pena a citação pelo que ela introduz: um diálogo entre o amor e a morte, a vivência dos dois, o movimento que se processa entre esse amor que é vida e que nos foge para a morte, um diálogo que irá estender-se pelos restantes poemas de forma mais ou menos evidente. A espera será então por uma ausência agora sentida e confirmada na solidão, no esquecimento, nesse sentimento de naufrágio que o passar do tempo nos faz sentir. Ou seja, o que estes poemas nos permitem compreender é que o sentimento da ausência daquilo que se espera não está ausente. Daí que os mortos assinalem a passagem deixando marcas na pele e na carne, «pouco mais que um aceno / entre ruínas» (p. 120). São chamados à liça poetas como Eliot, Rilke e Auden, mas também, de forma menos evidente, os citados em epígrafe: Pound, Whitman e Joyce. Convém referir que o tom elegíaco, tendencialmente mais manifesto à medida que a leitura prossegue, não se deixa negar a si próprio pela facilidade de uma absolutização da morte, da ruína, da decadência: «A noite é só um fio que tende para a alvorada – a estrela do norte / aponta o seu caminho: / em breve será estrela da manhã» (p. 64). Os últimos versos não o desmentem. Mas para isso é preciso ler o livro.
É um risco que por vezes corremos sem que grandes razões o justifiquem. Depois, procuramos remediar o erro com algum arrependimento na busca do tempo perdido. sem título (2002), livro de Bernardo Pinto de Almeida (n. 1954), não me tinha motivado qualquer interesse pela restante obra deste poeta estreado ainda na década de 80. Nem o nome de um autor serve de medida ao conjunto da sua obra, nem o conjunto da obra é a medida exacta do nome do autor. A questão é esta: por causa de um livro que não me agradou, desinteressei-me do resto. Este A Noite (Relógio D’Água, Janeiro de 2006) vem mudar tudo: pela densidade poética que propõe, pelo discurso arriscado e aglutinante, sobretudo pelo estranho prazer que a sua leitura convoca. Digo estranho porque o prazer que se retira da leitura deste livro não provém de um qualquer género de conforto. Antes pelo contrário, a poesia desta noite é desconfortável, inquietante, mas na exacta medida em que nos afirma sob o manto de uma sabedoria que não se impõe e, por isso mesmo, em momento algum se torna agressiva. A estruturação do livro em quatro partes, duas das quais agora republicadas (Depois que tudo recebeu o nome de Luz ou de Noite, 2002; Marin, 2005), leva-nos a pensar num esforço de organização tendo em vista um sentido de conjunto. Cada uma das partes, à excepção da terceira – um tudo nada diferente das restantes -, compõe-se de quatro fragmentos do que pode ser considerado um poema longo. Temos, logo a abrir, uma poesia em diálogo com os movimentos do mundo, marcada pela expressão de uma violência que se manifesta num tom ferido de ruína, crueldade e fadiga, onde a principal marca é a da ausência de uma segunda pessoa à qual o poeta se dirige. Mas esta segunda pessoa surge embaraçada num diálogo de imagens e vocábulos que pretende (e logra) confundir-nos: «Não há eternidade senão a desse instante / breve mas inexoravelmente persistente / de dois se amarem / sem vergonha ou respeito por mais nada / que não esse inesperado movimento que os transporta / para além de si mesmos - / e / meu Amor / até para além da terra que os seus corpos persistem em pisar / para além mesmo de toda a consideração pelo mundo - / pelas coisas do mundo: / por deus pátria família partido religião raça ciência – / o raio que os parta a todos - / crianças / gente esperando em silêncio a chegada do último comboio / os pobres perfilando-se para a esmola / ou as rodas inexoráveis que movem a finança / do surdo bater do dinheiro. Nada / senão isso: o teu corpo despindo-se na penumbra / o meu já aguardando o massacre / do encontro das bocas / da cona e da piça - / os sexos impacientes. // E tu: / eu apenas / e eu: / tu apenas» (p. 25). Vale a pena a citação pelo que ela introduz: um diálogo entre o amor e a morte, a vivência dos dois, o movimento que se processa entre esse amor que é vida e que nos foge para a morte, um diálogo que irá estender-se pelos restantes poemas de forma mais ou menos evidente. A espera será então por uma ausência agora sentida e confirmada na solidão, no esquecimento, nesse sentimento de naufrágio que o passar do tempo nos faz sentir. Ou seja, o que estes poemas nos permitem compreender é que o sentimento da ausência daquilo que se espera não está ausente. Daí que os mortos assinalem a passagem deixando marcas na pele e na carne, «pouco mais que um aceno / entre ruínas» (p. 120). São chamados à liça poetas como Eliot, Rilke e Auden, mas também, de forma menos evidente, os citados em epígrafe: Pound, Whitman e Joyce. Convém referir que o tom elegíaco, tendencialmente mais manifesto à medida que a leitura prossegue, não se deixa negar a si próprio pela facilidade de uma absolutização da morte, da ruína, da decadência: «A noite é só um fio que tende para a alvorada – a estrela do norte / aponta o seu caminho: / em breve será estrela da manhã» (p. 64). Os últimos versos não o desmentem. Mas para isso é preciso ler o livro.sexta-feira, 5 de maio de 2006
A NOITE
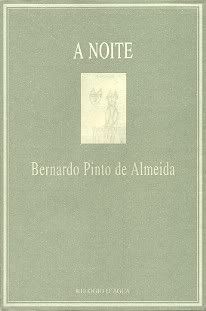 É um risco que por vezes corremos sem que grandes razões o justifiquem. Depois, procuramos remediar o erro com algum arrependimento na busca do tempo perdido. sem título (2002), livro de Bernardo Pinto de Almeida (n. 1954), não me tinha motivado qualquer interesse pela restante obra deste poeta estreado ainda na década de 80. Nem o nome de um autor serve de medida ao conjunto da sua obra, nem o conjunto da obra é a medida exacta do nome do autor. A questão é esta: por causa de um livro que não me agradou, desinteressei-me do resto. Este A Noite (Relógio D’Água, Janeiro de 2006) vem mudar tudo: pela densidade poética que propõe, pelo discurso arriscado e aglutinante, sobretudo pelo estranho prazer que a sua leitura convoca. Digo estranho porque o prazer que se retira da leitura deste livro não provém de um qualquer género de conforto. Antes pelo contrário, a poesia desta noite é desconfortável, inquietante, mas na exacta medida em que nos afirma sob o manto de uma sabedoria que não se impõe e, por isso mesmo, em momento algum se torna agressiva. A estruturação do livro em quatro partes, duas das quais agora republicadas (Depois que tudo recebeu o nome de Luz ou de Noite, 2002; Marin, 2005), leva-nos a pensar num esforço de organização tendo em vista um sentido de conjunto. Cada uma das partes, à excepção da terceira – um tudo nada diferente das restantes -, compõe-se de quatro fragmentos do que pode ser considerado um poema longo. Temos, logo a abrir, uma poesia em diálogo com os movimentos do mundo, marcada pela expressão de uma violência que se manifesta num tom ferido de ruína, crueldade e fadiga, onde a principal marca é a da ausência de uma segunda pessoa à qual o poeta se dirige. Mas esta segunda pessoa surge embaraçada num diálogo de imagens e vocábulos que pretende (e logra) confundir-nos: «Não há eternidade senão a desse instante / breve mas inexoravelmente persistente / de dois se amarem / sem vergonha ou respeito por mais nada / que não esse inesperado movimento que os transporta / para além de si mesmos - / e / meu Amor / até para além da terra que os seus corpos persistem em pisar / para além mesmo de toda a consideração pelo mundo - / pelas coisas do mundo: / por deus pátria família partido religião raça ciência – / o raio que os parta a todos - / crianças / gente esperando em silêncio a chegada do último comboio / os pobres perfilando-se para a esmola / ou as rodas inexoráveis que movem a finança / do surdo bater do dinheiro. Nada / senão isso: o teu corpo despindo-se na penumbra / o meu já aguardando o massacre / do encontro das bocas / da cona e da piça - / os sexos impacientes. // E tu: / eu apenas / e eu: / tu apenas» (p. 25). Vale a pena a citação pelo que ela introduz: um diálogo entre o amor e a morte, a vivência dos dois, o movimento que se processa entre esse amor que é vida e que nos foge para a morte, um diálogo que irá estender-se pelos restantes poemas de forma mais ou menos evidente. A espera será então por uma ausência agora sentida e confirmada na solidão, no esquecimento, nesse sentimento de naufrágio que o passar do tempo nos faz sentir. Ou seja, o que estes poemas nos permitem compreender é que o sentimento da ausência daquilo que se espera não está ausente. Daí que os mortos assinalem a passagem deixando marcas na pele e na carne, «pouco mais que um aceno / entre ruínas» (p. 120). São chamados à liça poetas como Eliot, Rilke e Auden, mas também, de forma menos evidente, os citados em epígrafe: Pound, Whitman e Joyce. Convém referir que o tom elegíaco, tendencialmente mais manifesto à medida que a leitura prossegue, não se deixa negar a si próprio pela facilidade de uma absolutização da morte, da ruína, da decadência: «A noite é só um fio que tende para a alvorada – a estrela do norte / aponta o seu caminho: / em breve será estrela da manhã» (p. 64). Os últimos versos não o desmentem. Mas para isso é preciso ler o livro.
É um risco que por vezes corremos sem que grandes razões o justifiquem. Depois, procuramos remediar o erro com algum arrependimento na busca do tempo perdido. sem título (2002), livro de Bernardo Pinto de Almeida (n. 1954), não me tinha motivado qualquer interesse pela restante obra deste poeta estreado ainda na década de 80. Nem o nome de um autor serve de medida ao conjunto da sua obra, nem o conjunto da obra é a medida exacta do nome do autor. A questão é esta: por causa de um livro que não me agradou, desinteressei-me do resto. Este A Noite (Relógio D’Água, Janeiro de 2006) vem mudar tudo: pela densidade poética que propõe, pelo discurso arriscado e aglutinante, sobretudo pelo estranho prazer que a sua leitura convoca. Digo estranho porque o prazer que se retira da leitura deste livro não provém de um qualquer género de conforto. Antes pelo contrário, a poesia desta noite é desconfortável, inquietante, mas na exacta medida em que nos afirma sob o manto de uma sabedoria que não se impõe e, por isso mesmo, em momento algum se torna agressiva. A estruturação do livro em quatro partes, duas das quais agora republicadas (Depois que tudo recebeu o nome de Luz ou de Noite, 2002; Marin, 2005), leva-nos a pensar num esforço de organização tendo em vista um sentido de conjunto. Cada uma das partes, à excepção da terceira – um tudo nada diferente das restantes -, compõe-se de quatro fragmentos do que pode ser considerado um poema longo. Temos, logo a abrir, uma poesia em diálogo com os movimentos do mundo, marcada pela expressão de uma violência que se manifesta num tom ferido de ruína, crueldade e fadiga, onde a principal marca é a da ausência de uma segunda pessoa à qual o poeta se dirige. Mas esta segunda pessoa surge embaraçada num diálogo de imagens e vocábulos que pretende (e logra) confundir-nos: «Não há eternidade senão a desse instante / breve mas inexoravelmente persistente / de dois se amarem / sem vergonha ou respeito por mais nada / que não esse inesperado movimento que os transporta / para além de si mesmos - / e / meu Amor / até para além da terra que os seus corpos persistem em pisar / para além mesmo de toda a consideração pelo mundo - / pelas coisas do mundo: / por deus pátria família partido religião raça ciência – / o raio que os parta a todos - / crianças / gente esperando em silêncio a chegada do último comboio / os pobres perfilando-se para a esmola / ou as rodas inexoráveis que movem a finança / do surdo bater do dinheiro. Nada / senão isso: o teu corpo despindo-se na penumbra / o meu já aguardando o massacre / do encontro das bocas / da cona e da piça - / os sexos impacientes. // E tu: / eu apenas / e eu: / tu apenas» (p. 25). Vale a pena a citação pelo que ela introduz: um diálogo entre o amor e a morte, a vivência dos dois, o movimento que se processa entre esse amor que é vida e que nos foge para a morte, um diálogo que irá estender-se pelos restantes poemas de forma mais ou menos evidente. A espera será então por uma ausência agora sentida e confirmada na solidão, no esquecimento, nesse sentimento de naufrágio que o passar do tempo nos faz sentir. Ou seja, o que estes poemas nos permitem compreender é que o sentimento da ausência daquilo que se espera não está ausente. Daí que os mortos assinalem a passagem deixando marcas na pele e na carne, «pouco mais que um aceno / entre ruínas» (p. 120). São chamados à liça poetas como Eliot, Rilke e Auden, mas também, de forma menos evidente, os citados em epígrafe: Pound, Whitman e Joyce. Convém referir que o tom elegíaco, tendencialmente mais manifesto à medida que a leitura prossegue, não se deixa negar a si próprio pela facilidade de uma absolutização da morte, da ruína, da decadência: «A noite é só um fio que tende para a alvorada – a estrela do norte / aponta o seu caminho: / em breve será estrela da manhã» (p. 64). Os últimos versos não o desmentem. Mas para isso é preciso ler o livro.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário