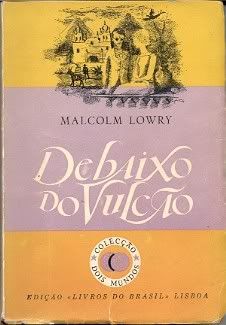 O nome de Malcolm Lowry (n. 1909 – m. 1957) deixou de me ser estranho quando ao ler O Anti-Édipo, de Gilles Deleuze e Félix Guattari, reparei numa referência assaz persuasiva: «Estranha literatura anglo-americana: Thomas Hardy, Lawrence e Lowry, Miller, Ginsberg e Kerouac são homens que sabem partir, misturar os códigos, fazer passar os fluxos, atravessar o deserto do corpo sem órgãos. Franqueiam um limite, rebentam um muro, a barreira capitalista, mas é evidente que nunca conseguem realizar completamente o processo». Seja como for, o apetite foi aberto. Miller, Ginsberg e Kerouac, eu já conhecia de obras como a trilogia da Rosa-Crucificação, Howl e Pela Estrada Fora. De Lawrence tinha lido algumas versões levadas a cabo pelo génio de Herberto Helder. Ficavam a faltar dois. Pesquisei algumas coisas acerca de ambos e nunca mais perdi Lowry de vista. Foi também por isso, mas não só, que em 2000 li com agrado Todos contentes e eu também, primeiro livro de poemas de Manuel de Freitas que começa, precisamente, com uma epígrafe de Malcolm Lowry. De resto, o título desse livro é, nada mais, nada menos, do que o nome de uma taverna onde, às páginas tantas, a personagem central de Debaixo do Vulcão, o cônsul Geoffrey Firmin, procura esquecer «a sua história trágica, o passado, os mortos debaixo da terra». Assim o México, rindo de si próprio sob o efeito do mescal. Por essas terras ocorre, numa Primavera de 1938, a narrativa de Under the Volcano. Publicado originalmente em 1947, este romance conta a história de Geoffrey Firmin, cônsul britânico na cidade de Quauhnahuac, alcoólatra e poeta frustrado. Conta que a ideia terá surgido quando, numa deambulação por várias aldeias e cidades mexicanas, Lowry avistou um índio moribundo a ser roubado na berma de uma estrada. Este episódio, relatado no romance, parece de facto possuir uma importância fulcral, na medida em que exemplifica toda uma série de questões centrais no decorrer da narrativa: a impotência dos homens na inversão do curso da história, a indiferença humana perante o sofrimento alheio, a condenação a uma inexorável solidão, uma desconfiança limite acerca da bondade dos homens. «Não havia limite para a ingenuidade daquela gente, embora o mais poderoso e último obstáculo quanto a fazerem alguma coisa pelo índio fosse o descobrirem que aquilo não lhes dizia respeito» (p. 259). É esta «batalha pela sobrevivência da consciência humana» que o cônsul Geoffrey Firmin trava consigo próprio, uma batalha tão política quão interpessoal, sobretudo ao confrontar-se com a impossibilidade de perdoar a sua ex-mulher. Yvonne, regressada após 21 meses de separação, procura reconciliar-se com Geoffrey, mas em torno do coração deste intransponíveis muralhas se ergueram: «Onde existe o amor? Deixai-me sofrer verdadeiramente. Devolvei-me a minha pureza, o conhecimento dos Mistérios que eu atraiçoei e perdi… Deixai-me ser verdadeiramente só, para que possa rezar com sinceridade. Deixai-nos ser novamente felizes em qualquer parte, juntos, ainda que seja fora deste mundo terrível. Destruí o mundo!» (p. 302) - assim reza o cônsul, à Virgem dos que não têm ninguém, numa das dezoito igrejas de Quahunahuac. Debaixo do Vulcão é, sem dúvida, um dos romances mais extraordinários que li até hoje. Não se entende pois que encontrá-lo, traduzido para a língua de Camões, seja trabalho de respigador. Só mesmo vasculhando bem as hordas de livros que se espalham pelas bancadas de uma feira de velharias. A edição que consegui, ao preço de cinco euros, traz uma dedicatória: «No dia do pai um beijo da Ana, 19 – 3 – 69». É da Livros do Brasil.
O nome de Malcolm Lowry (n. 1909 – m. 1957) deixou de me ser estranho quando ao ler O Anti-Édipo, de Gilles Deleuze e Félix Guattari, reparei numa referência assaz persuasiva: «Estranha literatura anglo-americana: Thomas Hardy, Lawrence e Lowry, Miller, Ginsberg e Kerouac são homens que sabem partir, misturar os códigos, fazer passar os fluxos, atravessar o deserto do corpo sem órgãos. Franqueiam um limite, rebentam um muro, a barreira capitalista, mas é evidente que nunca conseguem realizar completamente o processo». Seja como for, o apetite foi aberto. Miller, Ginsberg e Kerouac, eu já conhecia de obras como a trilogia da Rosa-Crucificação, Howl e Pela Estrada Fora. De Lawrence tinha lido algumas versões levadas a cabo pelo génio de Herberto Helder. Ficavam a faltar dois. Pesquisei algumas coisas acerca de ambos e nunca mais perdi Lowry de vista. Foi também por isso, mas não só, que em 2000 li com agrado Todos contentes e eu também, primeiro livro de poemas de Manuel de Freitas que começa, precisamente, com uma epígrafe de Malcolm Lowry. De resto, o título desse livro é, nada mais, nada menos, do que o nome de uma taverna onde, às páginas tantas, a personagem central de Debaixo do Vulcão, o cônsul Geoffrey Firmin, procura esquecer «a sua história trágica, o passado, os mortos debaixo da terra». Assim o México, rindo de si próprio sob o efeito do mescal. Por essas terras ocorre, numa Primavera de 1938, a narrativa de Under the Volcano. Publicado originalmente em 1947, este romance conta a história de Geoffrey Firmin, cônsul britânico na cidade de Quauhnahuac, alcoólatra e poeta frustrado. Conta que a ideia terá surgido quando, numa deambulação por várias aldeias e cidades mexicanas, Lowry avistou um índio moribundo a ser roubado na berma de uma estrada. Este episódio, relatado no romance, parece de facto possuir uma importância fulcral, na medida em que exemplifica toda uma série de questões centrais no decorrer da narrativa: a impotência dos homens na inversão do curso da história, a indiferença humana perante o sofrimento alheio, a condenação a uma inexorável solidão, uma desconfiança limite acerca da bondade dos homens. «Não havia limite para a ingenuidade daquela gente, embora o mais poderoso e último obstáculo quanto a fazerem alguma coisa pelo índio fosse o descobrirem que aquilo não lhes dizia respeito» (p. 259). É esta «batalha pela sobrevivência da consciência humana» que o cônsul Geoffrey Firmin trava consigo próprio, uma batalha tão política quão interpessoal, sobretudo ao confrontar-se com a impossibilidade de perdoar a sua ex-mulher. Yvonne, regressada após 21 meses de separação, procura reconciliar-se com Geoffrey, mas em torno do coração deste intransponíveis muralhas se ergueram: «Onde existe o amor? Deixai-me sofrer verdadeiramente. Devolvei-me a minha pureza, o conhecimento dos Mistérios que eu atraiçoei e perdi… Deixai-me ser verdadeiramente só, para que possa rezar com sinceridade. Deixai-nos ser novamente felizes em qualquer parte, juntos, ainda que seja fora deste mundo terrível. Destruí o mundo!» (p. 302) - assim reza o cônsul, à Virgem dos que não têm ninguém, numa das dezoito igrejas de Quahunahuac. Debaixo do Vulcão é, sem dúvida, um dos romances mais extraordinários que li até hoje. Não se entende pois que encontrá-lo, traduzido para a língua de Camões, seja trabalho de respigador. Só mesmo vasculhando bem as hordas de livros que se espalham pelas bancadas de uma feira de velharias. A edição que consegui, ao preço de cinco euros, traz uma dedicatória: «No dia do pai um beijo da Ana, 19 – 3 – 69». É da Livros do Brasil.quarta-feira, 13 de setembro de 2006
DEBAIXO DO VULCÃO
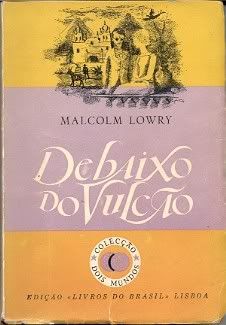 O nome de Malcolm Lowry (n. 1909 – m. 1957) deixou de me ser estranho quando ao ler O Anti-Édipo, de Gilles Deleuze e Félix Guattari, reparei numa referência assaz persuasiva: «Estranha literatura anglo-americana: Thomas Hardy, Lawrence e Lowry, Miller, Ginsberg e Kerouac são homens que sabem partir, misturar os códigos, fazer passar os fluxos, atravessar o deserto do corpo sem órgãos. Franqueiam um limite, rebentam um muro, a barreira capitalista, mas é evidente que nunca conseguem realizar completamente o processo». Seja como for, o apetite foi aberto. Miller, Ginsberg e Kerouac, eu já conhecia de obras como a trilogia da Rosa-Crucificação, Howl e Pela Estrada Fora. De Lawrence tinha lido algumas versões levadas a cabo pelo génio de Herberto Helder. Ficavam a faltar dois. Pesquisei algumas coisas acerca de ambos e nunca mais perdi Lowry de vista. Foi também por isso, mas não só, que em 2000 li com agrado Todos contentes e eu também, primeiro livro de poemas de Manuel de Freitas que começa, precisamente, com uma epígrafe de Malcolm Lowry. De resto, o título desse livro é, nada mais, nada menos, do que o nome de uma taverna onde, às páginas tantas, a personagem central de Debaixo do Vulcão, o cônsul Geoffrey Firmin, procura esquecer «a sua história trágica, o passado, os mortos debaixo da terra». Assim o México, rindo de si próprio sob o efeito do mescal. Por essas terras ocorre, numa Primavera de 1938, a narrativa de Under the Volcano. Publicado originalmente em 1947, este romance conta a história de Geoffrey Firmin, cônsul britânico na cidade de Quauhnahuac, alcoólatra e poeta frustrado. Conta que a ideia terá surgido quando, numa deambulação por várias aldeias e cidades mexicanas, Lowry avistou um índio moribundo a ser roubado na berma de uma estrada. Este episódio, relatado no romance, parece de facto possuir uma importância fulcral, na medida em que exemplifica toda uma série de questões centrais no decorrer da narrativa: a impotência dos homens na inversão do curso da história, a indiferença humana perante o sofrimento alheio, a condenação a uma inexorável solidão, uma desconfiança limite acerca da bondade dos homens. «Não havia limite para a ingenuidade daquela gente, embora o mais poderoso e último obstáculo quanto a fazerem alguma coisa pelo índio fosse o descobrirem que aquilo não lhes dizia respeito» (p. 259). É esta «batalha pela sobrevivência da consciência humana» que o cônsul Geoffrey Firmin trava consigo próprio, uma batalha tão política quão interpessoal, sobretudo ao confrontar-se com a impossibilidade de perdoar a sua ex-mulher. Yvonne, regressada após 21 meses de separação, procura reconciliar-se com Geoffrey, mas em torno do coração deste intransponíveis muralhas se ergueram: «Onde existe o amor? Deixai-me sofrer verdadeiramente. Devolvei-me a minha pureza, o conhecimento dos Mistérios que eu atraiçoei e perdi… Deixai-me ser verdadeiramente só, para que possa rezar com sinceridade. Deixai-nos ser novamente felizes em qualquer parte, juntos, ainda que seja fora deste mundo terrível. Destruí o mundo!» (p. 302) - assim reza o cônsul, à Virgem dos que não têm ninguém, numa das dezoito igrejas de Quahunahuac. Debaixo do Vulcão é, sem dúvida, um dos romances mais extraordinários que li até hoje. Não se entende pois que encontrá-lo, traduzido para a língua de Camões, seja trabalho de respigador. Só mesmo vasculhando bem as hordas de livros que se espalham pelas bancadas de uma feira de velharias. A edição que consegui, ao preço de cinco euros, traz uma dedicatória: «No dia do pai um beijo da Ana, 19 – 3 – 69». É da Livros do Brasil.
O nome de Malcolm Lowry (n. 1909 – m. 1957) deixou de me ser estranho quando ao ler O Anti-Édipo, de Gilles Deleuze e Félix Guattari, reparei numa referência assaz persuasiva: «Estranha literatura anglo-americana: Thomas Hardy, Lawrence e Lowry, Miller, Ginsberg e Kerouac são homens que sabem partir, misturar os códigos, fazer passar os fluxos, atravessar o deserto do corpo sem órgãos. Franqueiam um limite, rebentam um muro, a barreira capitalista, mas é evidente que nunca conseguem realizar completamente o processo». Seja como for, o apetite foi aberto. Miller, Ginsberg e Kerouac, eu já conhecia de obras como a trilogia da Rosa-Crucificação, Howl e Pela Estrada Fora. De Lawrence tinha lido algumas versões levadas a cabo pelo génio de Herberto Helder. Ficavam a faltar dois. Pesquisei algumas coisas acerca de ambos e nunca mais perdi Lowry de vista. Foi também por isso, mas não só, que em 2000 li com agrado Todos contentes e eu também, primeiro livro de poemas de Manuel de Freitas que começa, precisamente, com uma epígrafe de Malcolm Lowry. De resto, o título desse livro é, nada mais, nada menos, do que o nome de uma taverna onde, às páginas tantas, a personagem central de Debaixo do Vulcão, o cônsul Geoffrey Firmin, procura esquecer «a sua história trágica, o passado, os mortos debaixo da terra». Assim o México, rindo de si próprio sob o efeito do mescal. Por essas terras ocorre, numa Primavera de 1938, a narrativa de Under the Volcano. Publicado originalmente em 1947, este romance conta a história de Geoffrey Firmin, cônsul britânico na cidade de Quauhnahuac, alcoólatra e poeta frustrado. Conta que a ideia terá surgido quando, numa deambulação por várias aldeias e cidades mexicanas, Lowry avistou um índio moribundo a ser roubado na berma de uma estrada. Este episódio, relatado no romance, parece de facto possuir uma importância fulcral, na medida em que exemplifica toda uma série de questões centrais no decorrer da narrativa: a impotência dos homens na inversão do curso da história, a indiferença humana perante o sofrimento alheio, a condenação a uma inexorável solidão, uma desconfiança limite acerca da bondade dos homens. «Não havia limite para a ingenuidade daquela gente, embora o mais poderoso e último obstáculo quanto a fazerem alguma coisa pelo índio fosse o descobrirem que aquilo não lhes dizia respeito» (p. 259). É esta «batalha pela sobrevivência da consciência humana» que o cônsul Geoffrey Firmin trava consigo próprio, uma batalha tão política quão interpessoal, sobretudo ao confrontar-se com a impossibilidade de perdoar a sua ex-mulher. Yvonne, regressada após 21 meses de separação, procura reconciliar-se com Geoffrey, mas em torno do coração deste intransponíveis muralhas se ergueram: «Onde existe o amor? Deixai-me sofrer verdadeiramente. Devolvei-me a minha pureza, o conhecimento dos Mistérios que eu atraiçoei e perdi… Deixai-me ser verdadeiramente só, para que possa rezar com sinceridade. Deixai-nos ser novamente felizes em qualquer parte, juntos, ainda que seja fora deste mundo terrível. Destruí o mundo!» (p. 302) - assim reza o cônsul, à Virgem dos que não têm ninguém, numa das dezoito igrejas de Quahunahuac. Debaixo do Vulcão é, sem dúvida, um dos romances mais extraordinários que li até hoje. Não se entende pois que encontrá-lo, traduzido para a língua de Camões, seja trabalho de respigador. Só mesmo vasculhando bem as hordas de livros que se espalham pelas bancadas de uma feira de velharias. A edição que consegui, ao preço de cinco euros, traz uma dedicatória: «No dia do pai um beijo da Ana, 19 – 3 – 69». É da Livros do Brasil.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário