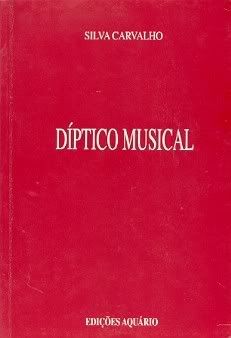 Se pensarmos em cinco poetas portugueses nascidos na segunda metade da década de 1940, talvez nos lembremos de nomes como os de Joaquim Manuel Magalhães (n. 1945), Al Berto (n. 1948), José Agostinho Baptista (n. 1948), Nuno Júdice (n. 1949) ou Hélder Moura Pereira (n. 1949). Porém, há um leque muito mais alargado de nomes dos quais dificilmente nos lembraríamos. Entre eles, o de Silva Carvalho (n. 1948) é talvez o menos conhecido de todos. Não sabemos as razões que explicam esse desconhecimento, mas ao entrar nesta obra que começou a desenhar-se em 1969, com um livro de nome Suor do Tédio, desconfiamos que tal se deva ao que menos agrada às cátedras e leitorados da literatura portuguesa: a ousadia. Neste caso específico, a ousadia começa logo na ruptura com os modelos poéticos ocidentais, na rejeição da versejadura nacional e dos preconceitos estéticos e estilísticos que, ora enformando, ora deformando, contaminam muita da poesia que por cá se vai produzindo. Díptico Musical, publicado em Novembro de 2005, foi-me oferecido por João Urbano, editor da revista Nada, a quem se devem as palavras inscritas na contracapa deste livro: «Em Silva Carvalho assistimos a uma deslocação, senão mesmo a uma inversão, de todos os valores poéticos, assistimos à rasura das poéticas neo-românticas e neo-simbolistas que dominam ainda a paisagem portuguesa, para que passe outra coisa muito mais exigente e arriscada, que não se contenta mais com o pequeno lume da poesia, seu lirismo complacente, essa destiladora de nostalgia, da pequena dor sacramental, e sem recair mais nas suas ilusões ou nos seus jogos de embriaguez redentora, alquímica, minimalista, perfeccionista e gnosiológica». São palavras que se ajustam na perfeição aos dois conjuntos que compõem Díptico Musical, assim intitulado por razões que o próprio autor explica num texto do segundo conjunto: «vou chamar aos dois últimos livros escritos, / esta Rede do Discurso e esse Quase, Díptico Musical, de tal maneira as canções que agora passam / pela rádio têm sido essenciais na feitura de mim / escrita de textos em livros personalizados» (p. 181). O musical do título é, deste modo, consequência mais de um acaso do que de um conceito a priori, ele resulta já de uma constatação a posteriori apenas possível devido ao constante diálogo que o "sujeito poético" mantém consigo próprio no espaço interior dos seus textos. Pela segunda vez lhes chamo textos e não poemas, pois assim parece ser, na medida em que se inscrevem no campo da poesia como uma interrogação constante das premissas poéticas, éticas e estéticas ocidentais. Ao poema prefere o autor o texto, ao verso prefere a linha ou qualquer coisa de indefinível que se inaugura entre os dois. A primeira impressão desta leitura é pois a de uma poesia que não é poética – no sentido que usualmente se dá ao conceito -, assemelhando-se mais ao ensaio ou a qualquer outra coisa que, em última instância, diríamos ser apenas literatura. Neste lugar da literatura encontramos proposta uma porética: «Porética é, senão a filosofia, a actividade, abrir / uma passagem todos os dias e a todas as horas, aqui / e ali, não só no linguajar (os heróis mortalmente / desaparecidos, cadáveres da ordem tumefacta), / mas na diversidade dos acontecimentos diários / onde se possa realmente sentir a realidade nova» (p. 124). A porética resulta numa musicalidade muito singular, também ela feita de metáforas, analogias, aliterações: «da voz que é foz faz a vez» (p. 34), «a vez voraz / do sem voz» (p. 83), «um nefasto fasto. Rasto de quê?» (p. 160). As palavras como que se puxam umas às outras, sugerem-se, uma palavra ecoa já uma outra que pede para ser evocada, para ser desenhada no corpo do texto, para ser parte integrante desse corpo. O ritmo de produção é impressionantemente quotidiano, quase sufocante, como se a escrita fosse um hábito no qual o homem se faz texto e o texto se erige como dilação natural do homem: «Estou a gostar deste texto. Estou, estupidamente, / a gostar de mim» (p. 137). Esta é uma escrita sem tempos mortos, feita a um ritmo alucinante (13 textos num só dia!) que pode oprimir a respiração da leitura, impondo-se ao leitor e exigindo-lhe uma predisposição que é um duelo permanente. É um ritmo que não se furta ao ruído, à intromissão de uma musicalidade vocabular muito pouco usual em livros de poesia: acmástica, aletologia, amíntica, borborigmos, catavético, ctónico, deiscência, epulótica, esplenética, intonativas, ortolexia, paratáctica, solecismo, tauxia, ustão, etc. Num mesmo poema podemos vislumbrar palavras como ingluviosa, inópia, insimulando, intermúndio, irrogar. A esta riqueza lexical corresponde aquilo a que o autor chama de catacrese (emprego de termos com significação diferente da usual, por falta de termos próprios na língua), uma espécie de metodologia da porética que reafirma os limites da linguagem. Isto justifica o tom de uma poesia sem soluções nem verdades, anticonvencional, onde, talvez por isso mesmo, encontramos recorrentemente o emprego da expressão «o que quer que seja». Em dois perigos incorre o leitor: julgar esta uma escrita ensimesmada e presunçosa. Há imensos ecos da vida quotidiana nestes textos de Silva Carvalho, referências a objectos, canais de televisão, canções, autores, ecos do mundo contemporâneo. Há um apego que é também, ao mesmo tempo, um desapego da realidade mas que não nega a experiência como alicerce da escrita. Aliás, a escrita é ela própria, neste contexto, uma experiência quotidiana. Nota-se, é verdade, uma má relação com o exterior, uma má relação que não resvala numa negação, antes pelo contrário, resulta numa exaltação da dor interna provocada pelo que provém de fora. O efeito é também aqui o de denúncia de um mal-estar e daquilo que o provoca. O leitor como que é levado a crer numa necessidade de distanciamento do mundo, numa espécie de taciturnidade, nunca concretizada. Daí, talvez, o desconforto. Mais que uma interacção com o mundo há uma reflexão crítica acerca dessa interacção, de como ela resulta no texto, há uma interrogação sobre a forma como a linguagem capta ou até onde logra captar essa mesma interacção. Pode parecer que Silva Carvalho se coloca na posição do sábio autoproclamado, o anacoreta que, em posse de herméticas verdades - mesmo que sejam elas a da ausência de verdade -, se arroga no direito e no dever de profetizar a estupidez do mundo, revelando o que os demais não vêem, e de censurar o mundo por este não ver nele esse tal profeta que só ele sabe que é. Mas essa atitude faz parte de um jogo que é, talvez, o que de mais poético tem esta porética.
Se pensarmos em cinco poetas portugueses nascidos na segunda metade da década de 1940, talvez nos lembremos de nomes como os de Joaquim Manuel Magalhães (n. 1945), Al Berto (n. 1948), José Agostinho Baptista (n. 1948), Nuno Júdice (n. 1949) ou Hélder Moura Pereira (n. 1949). Porém, há um leque muito mais alargado de nomes dos quais dificilmente nos lembraríamos. Entre eles, o de Silva Carvalho (n. 1948) é talvez o menos conhecido de todos. Não sabemos as razões que explicam esse desconhecimento, mas ao entrar nesta obra que começou a desenhar-se em 1969, com um livro de nome Suor do Tédio, desconfiamos que tal se deva ao que menos agrada às cátedras e leitorados da literatura portuguesa: a ousadia. Neste caso específico, a ousadia começa logo na ruptura com os modelos poéticos ocidentais, na rejeição da versejadura nacional e dos preconceitos estéticos e estilísticos que, ora enformando, ora deformando, contaminam muita da poesia que por cá se vai produzindo. Díptico Musical, publicado em Novembro de 2005, foi-me oferecido por João Urbano, editor da revista Nada, a quem se devem as palavras inscritas na contracapa deste livro: «Em Silva Carvalho assistimos a uma deslocação, senão mesmo a uma inversão, de todos os valores poéticos, assistimos à rasura das poéticas neo-românticas e neo-simbolistas que dominam ainda a paisagem portuguesa, para que passe outra coisa muito mais exigente e arriscada, que não se contenta mais com o pequeno lume da poesia, seu lirismo complacente, essa destiladora de nostalgia, da pequena dor sacramental, e sem recair mais nas suas ilusões ou nos seus jogos de embriaguez redentora, alquímica, minimalista, perfeccionista e gnosiológica». São palavras que se ajustam na perfeição aos dois conjuntos que compõem Díptico Musical, assim intitulado por razões que o próprio autor explica num texto do segundo conjunto: «vou chamar aos dois últimos livros escritos, / esta Rede do Discurso e esse Quase, Díptico Musical, de tal maneira as canções que agora passam / pela rádio têm sido essenciais na feitura de mim / escrita de textos em livros personalizados» (p. 181). O musical do título é, deste modo, consequência mais de um acaso do que de um conceito a priori, ele resulta já de uma constatação a posteriori apenas possível devido ao constante diálogo que o "sujeito poético" mantém consigo próprio no espaço interior dos seus textos. Pela segunda vez lhes chamo textos e não poemas, pois assim parece ser, na medida em que se inscrevem no campo da poesia como uma interrogação constante das premissas poéticas, éticas e estéticas ocidentais. Ao poema prefere o autor o texto, ao verso prefere a linha ou qualquer coisa de indefinível que se inaugura entre os dois. A primeira impressão desta leitura é pois a de uma poesia que não é poética – no sentido que usualmente se dá ao conceito -, assemelhando-se mais ao ensaio ou a qualquer outra coisa que, em última instância, diríamos ser apenas literatura. Neste lugar da literatura encontramos proposta uma porética: «Porética é, senão a filosofia, a actividade, abrir / uma passagem todos os dias e a todas as horas, aqui / e ali, não só no linguajar (os heróis mortalmente / desaparecidos, cadáveres da ordem tumefacta), / mas na diversidade dos acontecimentos diários / onde se possa realmente sentir a realidade nova» (p. 124). A porética resulta numa musicalidade muito singular, também ela feita de metáforas, analogias, aliterações: «da voz que é foz faz a vez» (p. 34), «a vez voraz / do sem voz» (p. 83), «um nefasto fasto. Rasto de quê?» (p. 160). As palavras como que se puxam umas às outras, sugerem-se, uma palavra ecoa já uma outra que pede para ser evocada, para ser desenhada no corpo do texto, para ser parte integrante desse corpo. O ritmo de produção é impressionantemente quotidiano, quase sufocante, como se a escrita fosse um hábito no qual o homem se faz texto e o texto se erige como dilação natural do homem: «Estou a gostar deste texto. Estou, estupidamente, / a gostar de mim» (p. 137). Esta é uma escrita sem tempos mortos, feita a um ritmo alucinante (13 textos num só dia!) que pode oprimir a respiração da leitura, impondo-se ao leitor e exigindo-lhe uma predisposição que é um duelo permanente. É um ritmo que não se furta ao ruído, à intromissão de uma musicalidade vocabular muito pouco usual em livros de poesia: acmástica, aletologia, amíntica, borborigmos, catavético, ctónico, deiscência, epulótica, esplenética, intonativas, ortolexia, paratáctica, solecismo, tauxia, ustão, etc. Num mesmo poema podemos vislumbrar palavras como ingluviosa, inópia, insimulando, intermúndio, irrogar. A esta riqueza lexical corresponde aquilo a que o autor chama de catacrese (emprego de termos com significação diferente da usual, por falta de termos próprios na língua), uma espécie de metodologia da porética que reafirma os limites da linguagem. Isto justifica o tom de uma poesia sem soluções nem verdades, anticonvencional, onde, talvez por isso mesmo, encontramos recorrentemente o emprego da expressão «o que quer que seja». Em dois perigos incorre o leitor: julgar esta uma escrita ensimesmada e presunçosa. Há imensos ecos da vida quotidiana nestes textos de Silva Carvalho, referências a objectos, canais de televisão, canções, autores, ecos do mundo contemporâneo. Há um apego que é também, ao mesmo tempo, um desapego da realidade mas que não nega a experiência como alicerce da escrita. Aliás, a escrita é ela própria, neste contexto, uma experiência quotidiana. Nota-se, é verdade, uma má relação com o exterior, uma má relação que não resvala numa negação, antes pelo contrário, resulta numa exaltação da dor interna provocada pelo que provém de fora. O efeito é também aqui o de denúncia de um mal-estar e daquilo que o provoca. O leitor como que é levado a crer numa necessidade de distanciamento do mundo, numa espécie de taciturnidade, nunca concretizada. Daí, talvez, o desconforto. Mais que uma interacção com o mundo há uma reflexão crítica acerca dessa interacção, de como ela resulta no texto, há uma interrogação sobre a forma como a linguagem capta ou até onde logra captar essa mesma interacção. Pode parecer que Silva Carvalho se coloca na posição do sábio autoproclamado, o anacoreta que, em posse de herméticas verdades - mesmo que sejam elas a da ausência de verdade -, se arroga no direito e no dever de profetizar a estupidez do mundo, revelando o que os demais não vêem, e de censurar o mundo por este não ver nele esse tal profeta que só ele sabe que é. Mas essa atitude faz parte de um jogo que é, talvez, o que de mais poético tem esta porética.domingo, 11 de março de 2007
DÍPTICO MUSICAL
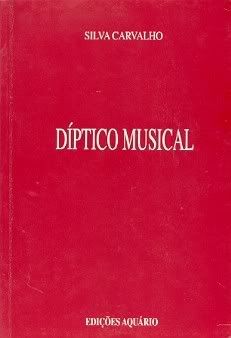 Se pensarmos em cinco poetas portugueses nascidos na segunda metade da década de 1940, talvez nos lembremos de nomes como os de Joaquim Manuel Magalhães (n. 1945), Al Berto (n. 1948), José Agostinho Baptista (n. 1948), Nuno Júdice (n. 1949) ou Hélder Moura Pereira (n. 1949). Porém, há um leque muito mais alargado de nomes dos quais dificilmente nos lembraríamos. Entre eles, o de Silva Carvalho (n. 1948) é talvez o menos conhecido de todos. Não sabemos as razões que explicam esse desconhecimento, mas ao entrar nesta obra que começou a desenhar-se em 1969, com um livro de nome Suor do Tédio, desconfiamos que tal se deva ao que menos agrada às cátedras e leitorados da literatura portuguesa: a ousadia. Neste caso específico, a ousadia começa logo na ruptura com os modelos poéticos ocidentais, na rejeição da versejadura nacional e dos preconceitos estéticos e estilísticos que, ora enformando, ora deformando, contaminam muita da poesia que por cá se vai produzindo. Díptico Musical, publicado em Novembro de 2005, foi-me oferecido por João Urbano, editor da revista Nada, a quem se devem as palavras inscritas na contracapa deste livro: «Em Silva Carvalho assistimos a uma deslocação, senão mesmo a uma inversão, de todos os valores poéticos, assistimos à rasura das poéticas neo-românticas e neo-simbolistas que dominam ainda a paisagem portuguesa, para que passe outra coisa muito mais exigente e arriscada, que não se contenta mais com o pequeno lume da poesia, seu lirismo complacente, essa destiladora de nostalgia, da pequena dor sacramental, e sem recair mais nas suas ilusões ou nos seus jogos de embriaguez redentora, alquímica, minimalista, perfeccionista e gnosiológica». São palavras que se ajustam na perfeição aos dois conjuntos que compõem Díptico Musical, assim intitulado por razões que o próprio autor explica num texto do segundo conjunto: «vou chamar aos dois últimos livros escritos, / esta Rede do Discurso e esse Quase, Díptico Musical, de tal maneira as canções que agora passam / pela rádio têm sido essenciais na feitura de mim / escrita de textos em livros personalizados» (p. 181). O musical do título é, deste modo, consequência mais de um acaso do que de um conceito a priori, ele resulta já de uma constatação a posteriori apenas possível devido ao constante diálogo que o "sujeito poético" mantém consigo próprio no espaço interior dos seus textos. Pela segunda vez lhes chamo textos e não poemas, pois assim parece ser, na medida em que se inscrevem no campo da poesia como uma interrogação constante das premissas poéticas, éticas e estéticas ocidentais. Ao poema prefere o autor o texto, ao verso prefere a linha ou qualquer coisa de indefinível que se inaugura entre os dois. A primeira impressão desta leitura é pois a de uma poesia que não é poética – no sentido que usualmente se dá ao conceito -, assemelhando-se mais ao ensaio ou a qualquer outra coisa que, em última instância, diríamos ser apenas literatura. Neste lugar da literatura encontramos proposta uma porética: «Porética é, senão a filosofia, a actividade, abrir / uma passagem todos os dias e a todas as horas, aqui / e ali, não só no linguajar (os heróis mortalmente / desaparecidos, cadáveres da ordem tumefacta), / mas na diversidade dos acontecimentos diários / onde se possa realmente sentir a realidade nova» (p. 124). A porética resulta numa musicalidade muito singular, também ela feita de metáforas, analogias, aliterações: «da voz que é foz faz a vez» (p. 34), «a vez voraz / do sem voz» (p. 83), «um nefasto fasto. Rasto de quê?» (p. 160). As palavras como que se puxam umas às outras, sugerem-se, uma palavra ecoa já uma outra que pede para ser evocada, para ser desenhada no corpo do texto, para ser parte integrante desse corpo. O ritmo de produção é impressionantemente quotidiano, quase sufocante, como se a escrita fosse um hábito no qual o homem se faz texto e o texto se erige como dilação natural do homem: «Estou a gostar deste texto. Estou, estupidamente, / a gostar de mim» (p. 137). Esta é uma escrita sem tempos mortos, feita a um ritmo alucinante (13 textos num só dia!) que pode oprimir a respiração da leitura, impondo-se ao leitor e exigindo-lhe uma predisposição que é um duelo permanente. É um ritmo que não se furta ao ruído, à intromissão de uma musicalidade vocabular muito pouco usual em livros de poesia: acmástica, aletologia, amíntica, borborigmos, catavético, ctónico, deiscência, epulótica, esplenética, intonativas, ortolexia, paratáctica, solecismo, tauxia, ustão, etc. Num mesmo poema podemos vislumbrar palavras como ingluviosa, inópia, insimulando, intermúndio, irrogar. A esta riqueza lexical corresponde aquilo a que o autor chama de catacrese (emprego de termos com significação diferente da usual, por falta de termos próprios na língua), uma espécie de metodologia da porética que reafirma os limites da linguagem. Isto justifica o tom de uma poesia sem soluções nem verdades, anticonvencional, onde, talvez por isso mesmo, encontramos recorrentemente o emprego da expressão «o que quer que seja». Em dois perigos incorre o leitor: julgar esta uma escrita ensimesmada e presunçosa. Há imensos ecos da vida quotidiana nestes textos de Silva Carvalho, referências a objectos, canais de televisão, canções, autores, ecos do mundo contemporâneo. Há um apego que é também, ao mesmo tempo, um desapego da realidade mas que não nega a experiência como alicerce da escrita. Aliás, a escrita é ela própria, neste contexto, uma experiência quotidiana. Nota-se, é verdade, uma má relação com o exterior, uma má relação que não resvala numa negação, antes pelo contrário, resulta numa exaltação da dor interna provocada pelo que provém de fora. O efeito é também aqui o de denúncia de um mal-estar e daquilo que o provoca. O leitor como que é levado a crer numa necessidade de distanciamento do mundo, numa espécie de taciturnidade, nunca concretizada. Daí, talvez, o desconforto. Mais que uma interacção com o mundo há uma reflexão crítica acerca dessa interacção, de como ela resulta no texto, há uma interrogação sobre a forma como a linguagem capta ou até onde logra captar essa mesma interacção. Pode parecer que Silva Carvalho se coloca na posição do sábio autoproclamado, o anacoreta que, em posse de herméticas verdades - mesmo que sejam elas a da ausência de verdade -, se arroga no direito e no dever de profetizar a estupidez do mundo, revelando o que os demais não vêem, e de censurar o mundo por este não ver nele esse tal profeta que só ele sabe que é. Mas essa atitude faz parte de um jogo que é, talvez, o que de mais poético tem esta porética.
Se pensarmos em cinco poetas portugueses nascidos na segunda metade da década de 1940, talvez nos lembremos de nomes como os de Joaquim Manuel Magalhães (n. 1945), Al Berto (n. 1948), José Agostinho Baptista (n. 1948), Nuno Júdice (n. 1949) ou Hélder Moura Pereira (n. 1949). Porém, há um leque muito mais alargado de nomes dos quais dificilmente nos lembraríamos. Entre eles, o de Silva Carvalho (n. 1948) é talvez o menos conhecido de todos. Não sabemos as razões que explicam esse desconhecimento, mas ao entrar nesta obra que começou a desenhar-se em 1969, com um livro de nome Suor do Tédio, desconfiamos que tal se deva ao que menos agrada às cátedras e leitorados da literatura portuguesa: a ousadia. Neste caso específico, a ousadia começa logo na ruptura com os modelos poéticos ocidentais, na rejeição da versejadura nacional e dos preconceitos estéticos e estilísticos que, ora enformando, ora deformando, contaminam muita da poesia que por cá se vai produzindo. Díptico Musical, publicado em Novembro de 2005, foi-me oferecido por João Urbano, editor da revista Nada, a quem se devem as palavras inscritas na contracapa deste livro: «Em Silva Carvalho assistimos a uma deslocação, senão mesmo a uma inversão, de todos os valores poéticos, assistimos à rasura das poéticas neo-românticas e neo-simbolistas que dominam ainda a paisagem portuguesa, para que passe outra coisa muito mais exigente e arriscada, que não se contenta mais com o pequeno lume da poesia, seu lirismo complacente, essa destiladora de nostalgia, da pequena dor sacramental, e sem recair mais nas suas ilusões ou nos seus jogos de embriaguez redentora, alquímica, minimalista, perfeccionista e gnosiológica». São palavras que se ajustam na perfeição aos dois conjuntos que compõem Díptico Musical, assim intitulado por razões que o próprio autor explica num texto do segundo conjunto: «vou chamar aos dois últimos livros escritos, / esta Rede do Discurso e esse Quase, Díptico Musical, de tal maneira as canções que agora passam / pela rádio têm sido essenciais na feitura de mim / escrita de textos em livros personalizados» (p. 181). O musical do título é, deste modo, consequência mais de um acaso do que de um conceito a priori, ele resulta já de uma constatação a posteriori apenas possível devido ao constante diálogo que o "sujeito poético" mantém consigo próprio no espaço interior dos seus textos. Pela segunda vez lhes chamo textos e não poemas, pois assim parece ser, na medida em que se inscrevem no campo da poesia como uma interrogação constante das premissas poéticas, éticas e estéticas ocidentais. Ao poema prefere o autor o texto, ao verso prefere a linha ou qualquer coisa de indefinível que se inaugura entre os dois. A primeira impressão desta leitura é pois a de uma poesia que não é poética – no sentido que usualmente se dá ao conceito -, assemelhando-se mais ao ensaio ou a qualquer outra coisa que, em última instância, diríamos ser apenas literatura. Neste lugar da literatura encontramos proposta uma porética: «Porética é, senão a filosofia, a actividade, abrir / uma passagem todos os dias e a todas as horas, aqui / e ali, não só no linguajar (os heróis mortalmente / desaparecidos, cadáveres da ordem tumefacta), / mas na diversidade dos acontecimentos diários / onde se possa realmente sentir a realidade nova» (p. 124). A porética resulta numa musicalidade muito singular, também ela feita de metáforas, analogias, aliterações: «da voz que é foz faz a vez» (p. 34), «a vez voraz / do sem voz» (p. 83), «um nefasto fasto. Rasto de quê?» (p. 160). As palavras como que se puxam umas às outras, sugerem-se, uma palavra ecoa já uma outra que pede para ser evocada, para ser desenhada no corpo do texto, para ser parte integrante desse corpo. O ritmo de produção é impressionantemente quotidiano, quase sufocante, como se a escrita fosse um hábito no qual o homem se faz texto e o texto se erige como dilação natural do homem: «Estou a gostar deste texto. Estou, estupidamente, / a gostar de mim» (p. 137). Esta é uma escrita sem tempos mortos, feita a um ritmo alucinante (13 textos num só dia!) que pode oprimir a respiração da leitura, impondo-se ao leitor e exigindo-lhe uma predisposição que é um duelo permanente. É um ritmo que não se furta ao ruído, à intromissão de uma musicalidade vocabular muito pouco usual em livros de poesia: acmástica, aletologia, amíntica, borborigmos, catavético, ctónico, deiscência, epulótica, esplenética, intonativas, ortolexia, paratáctica, solecismo, tauxia, ustão, etc. Num mesmo poema podemos vislumbrar palavras como ingluviosa, inópia, insimulando, intermúndio, irrogar. A esta riqueza lexical corresponde aquilo a que o autor chama de catacrese (emprego de termos com significação diferente da usual, por falta de termos próprios na língua), uma espécie de metodologia da porética que reafirma os limites da linguagem. Isto justifica o tom de uma poesia sem soluções nem verdades, anticonvencional, onde, talvez por isso mesmo, encontramos recorrentemente o emprego da expressão «o que quer que seja». Em dois perigos incorre o leitor: julgar esta uma escrita ensimesmada e presunçosa. Há imensos ecos da vida quotidiana nestes textos de Silva Carvalho, referências a objectos, canais de televisão, canções, autores, ecos do mundo contemporâneo. Há um apego que é também, ao mesmo tempo, um desapego da realidade mas que não nega a experiência como alicerce da escrita. Aliás, a escrita é ela própria, neste contexto, uma experiência quotidiana. Nota-se, é verdade, uma má relação com o exterior, uma má relação que não resvala numa negação, antes pelo contrário, resulta numa exaltação da dor interna provocada pelo que provém de fora. O efeito é também aqui o de denúncia de um mal-estar e daquilo que o provoca. O leitor como que é levado a crer numa necessidade de distanciamento do mundo, numa espécie de taciturnidade, nunca concretizada. Daí, talvez, o desconforto. Mais que uma interacção com o mundo há uma reflexão crítica acerca dessa interacção, de como ela resulta no texto, há uma interrogação sobre a forma como a linguagem capta ou até onde logra captar essa mesma interacção. Pode parecer que Silva Carvalho se coloca na posição do sábio autoproclamado, o anacoreta que, em posse de herméticas verdades - mesmo que sejam elas a da ausência de verdade -, se arroga no direito e no dever de profetizar a estupidez do mundo, revelando o que os demais não vêem, e de censurar o mundo por este não ver nele esse tal profeta que só ele sabe que é. Mas essa atitude faz parte de um jogo que é, talvez, o que de mais poético tem esta porética.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário