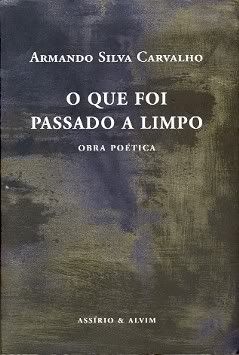 Advertência aos incautos: o que se segue não possui pretensões críticas, muito menos analíticas e literárias. Que não seja lido como uma recensão, nem tanto como resenha de toda uma obra cuja extensão só por intratável hipótese poderia caber num pequeno texto. Que seja lido, o que se segue, como um bloco de impressões salteadas nos interstícios do prazer provocado pela leitura de um livro. Falo de O Que Foi Passado a Limpo, pesada reunião da obra poética de Armando Silva Carvalho (n. 1938). São quarenta anos de versos, quase seiscentas páginas de poemas. Como resumir labor tão vasto em meia dúzia de linhas desprovidas de estro? Sejamos humildes, mas não nos furtemos ao essencial: a poesia também é para ser lida assim, descomprometidamente. Quem sobre esta poesia outra profundidade procurar, que se lance na leitura da mesma, ou, à entrada da mesma, do prefácio assinado por José Manuel de Vasconcelos. Em dezoito páginas algo mais é possível dizer e fazer, como palmilhar, livro a livro, os cambiantes de uma obra complexa e variada, as suas sugestões, contradições, o seu percurso de vida, porque é precisamente de vida que se deve falar quando se fala da poesia de Armando Silva Carvalho. Diz o prefaciador: «Armando Silva Carvalho é da mesma geração dos poetas da chamada Poesia 61 e, até certo ponto, foi um compagnon de route dos mesmos, tendo no entanto sido, de forma precipitada, confundido com eles» (p. 9). E, um pouco mais à frente, acrescenta: «De facto, estamos perante um poeta do olhar» (p. 10). De facto, é sempre precipitadamente que se "emprateleiram" os poetas. E do olhar, quais deles o não são? Mas julgo ter compreendido a chave proposta por José Manuel de Vasconcelos ao falar deste poeta como um poeta do olhar. Talvez ele nos pretenda comunicar o apego que encontramos nesta poesia às coisas dos sentidos, às coisas que, através dos sentidos, ganham no poema uma outra vida que é já um outro olhar. Insisto nesta questão da vida por me ser ela tão incomodamente actual. Vejamos. Em quarenta anos publicou o poeta treze títulos (três na década de 1960, quatro na de 1970, dois nos anos de 1980, apenas um nos de 1990 e três já de 2000 para cá). É certo que alguns desses livros são mais extensos do que é costume praticar-se hoje em dia. Só Alexandre Bissexto, de 1983, é composto por mais de oitenta poemas. Em quarenta anos, repito, publicou o poeta tantos livros quantos os que alguns poetas de hoje publicam em, vá lá, uma dúzia de anos. Tal facto, se não certifica o que quer que seja, pode indiciar-nos a exigência que um poeta coloca nos seus livros, uma exigência incompatível com os tempos que correm. Que não se julgue ser essa exigência detectável apenas no ritmo de produção, ela está patente nos poemas, na organização das colectâneas, nos versos nunca em excesso, bem medidos, sempre em justa medida com uma voz autêntica e singular. Compara-se frequentemente esta poesia com a de Alexandre O’Neill. Digam ao poeta algo que ele não saiba, pois inúmeras vezes é o autor de Feria Cabisbaixa chamado à página. Sucede que seria de enorme injustiça esgotar esta poesia no eco de uma das mais admiráveis vozes poéticas do século XX português. O’Neill ecoa, essencialmente, nos primeiros livros, na ironia que atravessa o volume inicial, Lírica Consumível (1965), nas figuras recorrentes da mosca e do cão – esta última merecedora de um tratado poético que é essa obra magna que dá pelo título de Canis Dei (1995) -, nos velhos, nas personagens mais ou menos picarescas de uma Lisboa mundana, a Lisboa de Lisboas (2000), celebrada em retratos impiedosos. O’Neill ecoa também num certo retrato de Portugal, um retrato ao qual Armando Silva Carvalho acrescenta um «clima americano» (p. 35), «com vamps americanas» (p. 62), «um vento americano» (p. 69), «a mão americana» (p. 234), «um complexo de Édipo / que o grupo americano engole / em coca-cola» (p. 269), enfim «as cruzadas da América» (p. 554). Há nestes poemas um olhar atento ao mundo, um olhar tão político quão erótico, tão afectuoso quão desencantado. Chamo a atenção para esse longo poema político que é Armas Brancas (1977), sem dúvida do melhor que a poesia portuguesa já nos outorgou. Ou para a linguagem acicatada, reveladora de um mal-estar denunciado, perdoe-se-me o plebeísmo, sem papas na língua, em Técnicas de Engate (1979). Mas chamo também a atenção para o «país de prosa até aos dentes» (p. 273), entregue às garras do consumo, desistente de si próprio, que eclode nos versos de Sentimento de um Acidental (1981). O’Neill, pois sim, mas também Cesário, Cesariny, Ruy Belo, Fiama, Jorge de Sena, entre tantos outros com os quais o diálogo possível se vai mantendo, o diálogo que é igualmente um diálogo com o tempo presente, com o quotidiano, com o tempo passado, com a infância, com a ruralidade perdida algures na infância rememorada, um diálogo com as fracturas da vida urbana, um diálogo com a história de um povo, de um poeta a viver-se na prática do poema. Pois mais que ser do olhar esta é uma poesia da vida, uma poesia de quem vive para lá do poema, embora encontre no poema o lugar de um rescaldo para a vida. O resto, que o digam os ossos: «Sem águas represas nem bichos de contas / O meu tempo reparte-se / Pelo clima pela fortuna do vento / Pela leitura dos periódicos pela ausência / De pássaros na garganta // A vida vai falar por mim através / Dos ossos» (p. 560). No entanto, algo distingue a poesia de Armando Silva Carvalho da que alguns dos supracitados nos deixaram de herança. No poeta de Canis Dei (1995) deus não está ausente como está em O’Neill, nem é o conceito que permite dar o nome de divinas a coisas como o mar (Cf. Ruy Belo). Nestes poemas deus é assumido como um mistério insondável, um mistério quase jasperiano, uma cifra, um englobante, uma cifra que se mostra no limite das situações. Entre elas, como é óbvio, a situação da morte. Retomo o prefácio: aqui deus depara-se «como resultado de um exercício de autoconhecimento ou de um re-conhecimento, que lembra um pouco a cognitio matutina de Santo Agostinho» (p. 24). Neste sentido, é em Sol a Sol, último livro deste extenso volume, livro que podemos dizer dedicado a Fiama Hasse Pais Brandão, que encontramos uma estrofe magnífica com a qual apetece terminar o texto, partindo do princípio que o fim do texto seja o início de uma nova busca, de uma outra leitura, de outras e sempre renovadas impressões: «Viver é sobreviver ser gota de água / Nas mãos do mar / É saber morrer a seus pés / Sob o olhar dum deus que atravessa absoluto / A palavra do espaço» (p. 510).
Advertência aos incautos: o que se segue não possui pretensões críticas, muito menos analíticas e literárias. Que não seja lido como uma recensão, nem tanto como resenha de toda uma obra cuja extensão só por intratável hipótese poderia caber num pequeno texto. Que seja lido, o que se segue, como um bloco de impressões salteadas nos interstícios do prazer provocado pela leitura de um livro. Falo de O Que Foi Passado a Limpo, pesada reunião da obra poética de Armando Silva Carvalho (n. 1938). São quarenta anos de versos, quase seiscentas páginas de poemas. Como resumir labor tão vasto em meia dúzia de linhas desprovidas de estro? Sejamos humildes, mas não nos furtemos ao essencial: a poesia também é para ser lida assim, descomprometidamente. Quem sobre esta poesia outra profundidade procurar, que se lance na leitura da mesma, ou, à entrada da mesma, do prefácio assinado por José Manuel de Vasconcelos. Em dezoito páginas algo mais é possível dizer e fazer, como palmilhar, livro a livro, os cambiantes de uma obra complexa e variada, as suas sugestões, contradições, o seu percurso de vida, porque é precisamente de vida que se deve falar quando se fala da poesia de Armando Silva Carvalho. Diz o prefaciador: «Armando Silva Carvalho é da mesma geração dos poetas da chamada Poesia 61 e, até certo ponto, foi um compagnon de route dos mesmos, tendo no entanto sido, de forma precipitada, confundido com eles» (p. 9). E, um pouco mais à frente, acrescenta: «De facto, estamos perante um poeta do olhar» (p. 10). De facto, é sempre precipitadamente que se "emprateleiram" os poetas. E do olhar, quais deles o não são? Mas julgo ter compreendido a chave proposta por José Manuel de Vasconcelos ao falar deste poeta como um poeta do olhar. Talvez ele nos pretenda comunicar o apego que encontramos nesta poesia às coisas dos sentidos, às coisas que, através dos sentidos, ganham no poema uma outra vida que é já um outro olhar. Insisto nesta questão da vida por me ser ela tão incomodamente actual. Vejamos. Em quarenta anos publicou o poeta treze títulos (três na década de 1960, quatro na de 1970, dois nos anos de 1980, apenas um nos de 1990 e três já de 2000 para cá). É certo que alguns desses livros são mais extensos do que é costume praticar-se hoje em dia. Só Alexandre Bissexto, de 1983, é composto por mais de oitenta poemas. Em quarenta anos, repito, publicou o poeta tantos livros quantos os que alguns poetas de hoje publicam em, vá lá, uma dúzia de anos. Tal facto, se não certifica o que quer que seja, pode indiciar-nos a exigência que um poeta coloca nos seus livros, uma exigência incompatível com os tempos que correm. Que não se julgue ser essa exigência detectável apenas no ritmo de produção, ela está patente nos poemas, na organização das colectâneas, nos versos nunca em excesso, bem medidos, sempre em justa medida com uma voz autêntica e singular. Compara-se frequentemente esta poesia com a de Alexandre O’Neill. Digam ao poeta algo que ele não saiba, pois inúmeras vezes é o autor de Feria Cabisbaixa chamado à página. Sucede que seria de enorme injustiça esgotar esta poesia no eco de uma das mais admiráveis vozes poéticas do século XX português. O’Neill ecoa, essencialmente, nos primeiros livros, na ironia que atravessa o volume inicial, Lírica Consumível (1965), nas figuras recorrentes da mosca e do cão – esta última merecedora de um tratado poético que é essa obra magna que dá pelo título de Canis Dei (1995) -, nos velhos, nas personagens mais ou menos picarescas de uma Lisboa mundana, a Lisboa de Lisboas (2000), celebrada em retratos impiedosos. O’Neill ecoa também num certo retrato de Portugal, um retrato ao qual Armando Silva Carvalho acrescenta um «clima americano» (p. 35), «com vamps americanas» (p. 62), «um vento americano» (p. 69), «a mão americana» (p. 234), «um complexo de Édipo / que o grupo americano engole / em coca-cola» (p. 269), enfim «as cruzadas da América» (p. 554). Há nestes poemas um olhar atento ao mundo, um olhar tão político quão erótico, tão afectuoso quão desencantado. Chamo a atenção para esse longo poema político que é Armas Brancas (1977), sem dúvida do melhor que a poesia portuguesa já nos outorgou. Ou para a linguagem acicatada, reveladora de um mal-estar denunciado, perdoe-se-me o plebeísmo, sem papas na língua, em Técnicas de Engate (1979). Mas chamo também a atenção para o «país de prosa até aos dentes» (p. 273), entregue às garras do consumo, desistente de si próprio, que eclode nos versos de Sentimento de um Acidental (1981). O’Neill, pois sim, mas também Cesário, Cesariny, Ruy Belo, Fiama, Jorge de Sena, entre tantos outros com os quais o diálogo possível se vai mantendo, o diálogo que é igualmente um diálogo com o tempo presente, com o quotidiano, com o tempo passado, com a infância, com a ruralidade perdida algures na infância rememorada, um diálogo com as fracturas da vida urbana, um diálogo com a história de um povo, de um poeta a viver-se na prática do poema. Pois mais que ser do olhar esta é uma poesia da vida, uma poesia de quem vive para lá do poema, embora encontre no poema o lugar de um rescaldo para a vida. O resto, que o digam os ossos: «Sem águas represas nem bichos de contas / O meu tempo reparte-se / Pelo clima pela fortuna do vento / Pela leitura dos periódicos pela ausência / De pássaros na garganta // A vida vai falar por mim através / Dos ossos» (p. 560). No entanto, algo distingue a poesia de Armando Silva Carvalho da que alguns dos supracitados nos deixaram de herança. No poeta de Canis Dei (1995) deus não está ausente como está em O’Neill, nem é o conceito que permite dar o nome de divinas a coisas como o mar (Cf. Ruy Belo). Nestes poemas deus é assumido como um mistério insondável, um mistério quase jasperiano, uma cifra, um englobante, uma cifra que se mostra no limite das situações. Entre elas, como é óbvio, a situação da morte. Retomo o prefácio: aqui deus depara-se «como resultado de um exercício de autoconhecimento ou de um re-conhecimento, que lembra um pouco a cognitio matutina de Santo Agostinho» (p. 24). Neste sentido, é em Sol a Sol, último livro deste extenso volume, livro que podemos dizer dedicado a Fiama Hasse Pais Brandão, que encontramos uma estrofe magnífica com a qual apetece terminar o texto, partindo do princípio que o fim do texto seja o início de uma nova busca, de uma outra leitura, de outras e sempre renovadas impressões: «Viver é sobreviver ser gota de água / Nas mãos do mar / É saber morrer a seus pés / Sob o olhar dum deus que atravessa absoluto / A palavra do espaço» (p. 510).sábado, 14 de julho de 2007
O QUE FOI PASSADO A LIMPO
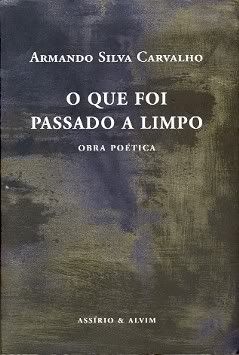 Advertência aos incautos: o que se segue não possui pretensões críticas, muito menos analíticas e literárias. Que não seja lido como uma recensão, nem tanto como resenha de toda uma obra cuja extensão só por intratável hipótese poderia caber num pequeno texto. Que seja lido, o que se segue, como um bloco de impressões salteadas nos interstícios do prazer provocado pela leitura de um livro. Falo de O Que Foi Passado a Limpo, pesada reunião da obra poética de Armando Silva Carvalho (n. 1938). São quarenta anos de versos, quase seiscentas páginas de poemas. Como resumir labor tão vasto em meia dúzia de linhas desprovidas de estro? Sejamos humildes, mas não nos furtemos ao essencial: a poesia também é para ser lida assim, descomprometidamente. Quem sobre esta poesia outra profundidade procurar, que se lance na leitura da mesma, ou, à entrada da mesma, do prefácio assinado por José Manuel de Vasconcelos. Em dezoito páginas algo mais é possível dizer e fazer, como palmilhar, livro a livro, os cambiantes de uma obra complexa e variada, as suas sugestões, contradições, o seu percurso de vida, porque é precisamente de vida que se deve falar quando se fala da poesia de Armando Silva Carvalho. Diz o prefaciador: «Armando Silva Carvalho é da mesma geração dos poetas da chamada Poesia 61 e, até certo ponto, foi um compagnon de route dos mesmos, tendo no entanto sido, de forma precipitada, confundido com eles» (p. 9). E, um pouco mais à frente, acrescenta: «De facto, estamos perante um poeta do olhar» (p. 10). De facto, é sempre precipitadamente que se "emprateleiram" os poetas. E do olhar, quais deles o não são? Mas julgo ter compreendido a chave proposta por José Manuel de Vasconcelos ao falar deste poeta como um poeta do olhar. Talvez ele nos pretenda comunicar o apego que encontramos nesta poesia às coisas dos sentidos, às coisas que, através dos sentidos, ganham no poema uma outra vida que é já um outro olhar. Insisto nesta questão da vida por me ser ela tão incomodamente actual. Vejamos. Em quarenta anos publicou o poeta treze títulos (três na década de 1960, quatro na de 1970, dois nos anos de 1980, apenas um nos de 1990 e três já de 2000 para cá). É certo que alguns desses livros são mais extensos do que é costume praticar-se hoje em dia. Só Alexandre Bissexto, de 1983, é composto por mais de oitenta poemas. Em quarenta anos, repito, publicou o poeta tantos livros quantos os que alguns poetas de hoje publicam em, vá lá, uma dúzia de anos. Tal facto, se não certifica o que quer que seja, pode indiciar-nos a exigência que um poeta coloca nos seus livros, uma exigência incompatível com os tempos que correm. Que não se julgue ser essa exigência detectável apenas no ritmo de produção, ela está patente nos poemas, na organização das colectâneas, nos versos nunca em excesso, bem medidos, sempre em justa medida com uma voz autêntica e singular. Compara-se frequentemente esta poesia com a de Alexandre O’Neill. Digam ao poeta algo que ele não saiba, pois inúmeras vezes é o autor de Feria Cabisbaixa chamado à página. Sucede que seria de enorme injustiça esgotar esta poesia no eco de uma das mais admiráveis vozes poéticas do século XX português. O’Neill ecoa, essencialmente, nos primeiros livros, na ironia que atravessa o volume inicial, Lírica Consumível (1965), nas figuras recorrentes da mosca e do cão – esta última merecedora de um tratado poético que é essa obra magna que dá pelo título de Canis Dei (1995) -, nos velhos, nas personagens mais ou menos picarescas de uma Lisboa mundana, a Lisboa de Lisboas (2000), celebrada em retratos impiedosos. O’Neill ecoa também num certo retrato de Portugal, um retrato ao qual Armando Silva Carvalho acrescenta um «clima americano» (p. 35), «com vamps americanas» (p. 62), «um vento americano» (p. 69), «a mão americana» (p. 234), «um complexo de Édipo / que o grupo americano engole / em coca-cola» (p. 269), enfim «as cruzadas da América» (p. 554). Há nestes poemas um olhar atento ao mundo, um olhar tão político quão erótico, tão afectuoso quão desencantado. Chamo a atenção para esse longo poema político que é Armas Brancas (1977), sem dúvida do melhor que a poesia portuguesa já nos outorgou. Ou para a linguagem acicatada, reveladora de um mal-estar denunciado, perdoe-se-me o plebeísmo, sem papas na língua, em Técnicas de Engate (1979). Mas chamo também a atenção para o «país de prosa até aos dentes» (p. 273), entregue às garras do consumo, desistente de si próprio, que eclode nos versos de Sentimento de um Acidental (1981). O’Neill, pois sim, mas também Cesário, Cesariny, Ruy Belo, Fiama, Jorge de Sena, entre tantos outros com os quais o diálogo possível se vai mantendo, o diálogo que é igualmente um diálogo com o tempo presente, com o quotidiano, com o tempo passado, com a infância, com a ruralidade perdida algures na infância rememorada, um diálogo com as fracturas da vida urbana, um diálogo com a história de um povo, de um poeta a viver-se na prática do poema. Pois mais que ser do olhar esta é uma poesia da vida, uma poesia de quem vive para lá do poema, embora encontre no poema o lugar de um rescaldo para a vida. O resto, que o digam os ossos: «Sem águas represas nem bichos de contas / O meu tempo reparte-se / Pelo clima pela fortuna do vento / Pela leitura dos periódicos pela ausência / De pássaros na garganta // A vida vai falar por mim através / Dos ossos» (p. 560). No entanto, algo distingue a poesia de Armando Silva Carvalho da que alguns dos supracitados nos deixaram de herança. No poeta de Canis Dei (1995) deus não está ausente como está em O’Neill, nem é o conceito que permite dar o nome de divinas a coisas como o mar (Cf. Ruy Belo). Nestes poemas deus é assumido como um mistério insondável, um mistério quase jasperiano, uma cifra, um englobante, uma cifra que se mostra no limite das situações. Entre elas, como é óbvio, a situação da morte. Retomo o prefácio: aqui deus depara-se «como resultado de um exercício de autoconhecimento ou de um re-conhecimento, que lembra um pouco a cognitio matutina de Santo Agostinho» (p. 24). Neste sentido, é em Sol a Sol, último livro deste extenso volume, livro que podemos dizer dedicado a Fiama Hasse Pais Brandão, que encontramos uma estrofe magnífica com a qual apetece terminar o texto, partindo do princípio que o fim do texto seja o início de uma nova busca, de uma outra leitura, de outras e sempre renovadas impressões: «Viver é sobreviver ser gota de água / Nas mãos do mar / É saber morrer a seus pés / Sob o olhar dum deus que atravessa absoluto / A palavra do espaço» (p. 510).
Advertência aos incautos: o que se segue não possui pretensões críticas, muito menos analíticas e literárias. Que não seja lido como uma recensão, nem tanto como resenha de toda uma obra cuja extensão só por intratável hipótese poderia caber num pequeno texto. Que seja lido, o que se segue, como um bloco de impressões salteadas nos interstícios do prazer provocado pela leitura de um livro. Falo de O Que Foi Passado a Limpo, pesada reunião da obra poética de Armando Silva Carvalho (n. 1938). São quarenta anos de versos, quase seiscentas páginas de poemas. Como resumir labor tão vasto em meia dúzia de linhas desprovidas de estro? Sejamos humildes, mas não nos furtemos ao essencial: a poesia também é para ser lida assim, descomprometidamente. Quem sobre esta poesia outra profundidade procurar, que se lance na leitura da mesma, ou, à entrada da mesma, do prefácio assinado por José Manuel de Vasconcelos. Em dezoito páginas algo mais é possível dizer e fazer, como palmilhar, livro a livro, os cambiantes de uma obra complexa e variada, as suas sugestões, contradições, o seu percurso de vida, porque é precisamente de vida que se deve falar quando se fala da poesia de Armando Silva Carvalho. Diz o prefaciador: «Armando Silva Carvalho é da mesma geração dos poetas da chamada Poesia 61 e, até certo ponto, foi um compagnon de route dos mesmos, tendo no entanto sido, de forma precipitada, confundido com eles» (p. 9). E, um pouco mais à frente, acrescenta: «De facto, estamos perante um poeta do olhar» (p. 10). De facto, é sempre precipitadamente que se "emprateleiram" os poetas. E do olhar, quais deles o não são? Mas julgo ter compreendido a chave proposta por José Manuel de Vasconcelos ao falar deste poeta como um poeta do olhar. Talvez ele nos pretenda comunicar o apego que encontramos nesta poesia às coisas dos sentidos, às coisas que, através dos sentidos, ganham no poema uma outra vida que é já um outro olhar. Insisto nesta questão da vida por me ser ela tão incomodamente actual. Vejamos. Em quarenta anos publicou o poeta treze títulos (três na década de 1960, quatro na de 1970, dois nos anos de 1980, apenas um nos de 1990 e três já de 2000 para cá). É certo que alguns desses livros são mais extensos do que é costume praticar-se hoje em dia. Só Alexandre Bissexto, de 1983, é composto por mais de oitenta poemas. Em quarenta anos, repito, publicou o poeta tantos livros quantos os que alguns poetas de hoje publicam em, vá lá, uma dúzia de anos. Tal facto, se não certifica o que quer que seja, pode indiciar-nos a exigência que um poeta coloca nos seus livros, uma exigência incompatível com os tempos que correm. Que não se julgue ser essa exigência detectável apenas no ritmo de produção, ela está patente nos poemas, na organização das colectâneas, nos versos nunca em excesso, bem medidos, sempre em justa medida com uma voz autêntica e singular. Compara-se frequentemente esta poesia com a de Alexandre O’Neill. Digam ao poeta algo que ele não saiba, pois inúmeras vezes é o autor de Feria Cabisbaixa chamado à página. Sucede que seria de enorme injustiça esgotar esta poesia no eco de uma das mais admiráveis vozes poéticas do século XX português. O’Neill ecoa, essencialmente, nos primeiros livros, na ironia que atravessa o volume inicial, Lírica Consumível (1965), nas figuras recorrentes da mosca e do cão – esta última merecedora de um tratado poético que é essa obra magna que dá pelo título de Canis Dei (1995) -, nos velhos, nas personagens mais ou menos picarescas de uma Lisboa mundana, a Lisboa de Lisboas (2000), celebrada em retratos impiedosos. O’Neill ecoa também num certo retrato de Portugal, um retrato ao qual Armando Silva Carvalho acrescenta um «clima americano» (p. 35), «com vamps americanas» (p. 62), «um vento americano» (p. 69), «a mão americana» (p. 234), «um complexo de Édipo / que o grupo americano engole / em coca-cola» (p. 269), enfim «as cruzadas da América» (p. 554). Há nestes poemas um olhar atento ao mundo, um olhar tão político quão erótico, tão afectuoso quão desencantado. Chamo a atenção para esse longo poema político que é Armas Brancas (1977), sem dúvida do melhor que a poesia portuguesa já nos outorgou. Ou para a linguagem acicatada, reveladora de um mal-estar denunciado, perdoe-se-me o plebeísmo, sem papas na língua, em Técnicas de Engate (1979). Mas chamo também a atenção para o «país de prosa até aos dentes» (p. 273), entregue às garras do consumo, desistente de si próprio, que eclode nos versos de Sentimento de um Acidental (1981). O’Neill, pois sim, mas também Cesário, Cesariny, Ruy Belo, Fiama, Jorge de Sena, entre tantos outros com os quais o diálogo possível se vai mantendo, o diálogo que é igualmente um diálogo com o tempo presente, com o quotidiano, com o tempo passado, com a infância, com a ruralidade perdida algures na infância rememorada, um diálogo com as fracturas da vida urbana, um diálogo com a história de um povo, de um poeta a viver-se na prática do poema. Pois mais que ser do olhar esta é uma poesia da vida, uma poesia de quem vive para lá do poema, embora encontre no poema o lugar de um rescaldo para a vida. O resto, que o digam os ossos: «Sem águas represas nem bichos de contas / O meu tempo reparte-se / Pelo clima pela fortuna do vento / Pela leitura dos periódicos pela ausência / De pássaros na garganta // A vida vai falar por mim através / Dos ossos» (p. 560). No entanto, algo distingue a poesia de Armando Silva Carvalho da que alguns dos supracitados nos deixaram de herança. No poeta de Canis Dei (1995) deus não está ausente como está em O’Neill, nem é o conceito que permite dar o nome de divinas a coisas como o mar (Cf. Ruy Belo). Nestes poemas deus é assumido como um mistério insondável, um mistério quase jasperiano, uma cifra, um englobante, uma cifra que se mostra no limite das situações. Entre elas, como é óbvio, a situação da morte. Retomo o prefácio: aqui deus depara-se «como resultado de um exercício de autoconhecimento ou de um re-conhecimento, que lembra um pouco a cognitio matutina de Santo Agostinho» (p. 24). Neste sentido, é em Sol a Sol, último livro deste extenso volume, livro que podemos dizer dedicado a Fiama Hasse Pais Brandão, que encontramos uma estrofe magnífica com a qual apetece terminar o texto, partindo do princípio que o fim do texto seja o início de uma nova busca, de uma outra leitura, de outras e sempre renovadas impressões: «Viver é sobreviver ser gota de água / Nas mãos do mar / É saber morrer a seus pés / Sob o olhar dum deus que atravessa absoluto / A palavra do espaço» (p. 510).
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário