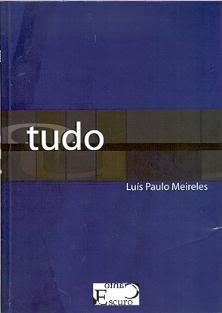 Tudo é uma palavra enorme, pesada, uma palavra sem oponentes, onde cabem sinónimos e antónimos, é uma palavra englobante, uma palavra que engloba, inclusive, a palavra nada. Daí que tudo se confunda tanto com nada, do mesmo modo que nada se confunde com tudo. Por isso dizemos que o branco afirma o negro e vice-versa, que a noite declara o dia e vice-versa, que o homem explica a mulher e vice-versa, que entre todos os opostos há, talvez, um lugar crepuscular, indecifrável, fonte de poesia. Mas mesmo esse lugar indecifrável cabe em tudo, pois tudo é tudo, não pode deixar de ser também o lugar indecifrável que se intrometerá entre tudo e nada, sob pena de, deixando de ser também esse lugar, deixar de ser tudo. De Luís Paulo Meireles sabemos tudo, ou seja, nada. A nota de abertura assinada por Henrique Delgado, outro acerca do qual sabemos nada, ou seja, tudo, faz dele autor transmontano/migrante, «contemporâneo de m.parissy, José Luís Peixoto e Nuno Rebocho» (sic). Sabemos ainda que publicou em projectos editoriais obscuros tais como non nova sed nove e cadernos de ibn mukhane, prorrogando a obscuridade com O Portão (ed. Autor, 2000) e, mais recentemente, com Tudo (Canto Escuro, 2008). Restam-nos os poemas, porventura o que mais interessa, esse pouco mais que nada com o qual pretendemos ocupar algum do nosso tempo. São poemas breves, de verso curto (à excepção de três prosas, ou de três poemas de verso menos contido), que nos lembram, por vezes, ladainhas e lengalengas sem intenções curativas que não sejam as de recitar, ao sabor do acaso e quando convém, os segmentos da existência que nos acompanham no tempo. Mais ou menos explicitamente, estão estes poemas repletos de memórias, ou, melhor, de uma «memória esfomeada» (p. 12) que resiste ao tempo, à brancura do esquecimento, que luta contra o medo dos náufragos. «Sobrevivente do naufrágio o homem» (p. 15) que escreve olha o mundo, recorda o passado, evoca os ausentes, aguarda o fim como quem cumpre tudo sem nada: «não tenho nada a escrever nem nada a conservar / desatam as recordações esquecidas na velha mala / a lutar no tempo na espera do meu destino / deito tudo fora e mergulho numa visão enganadora / a vida é uma mentira / fugindo das regras / fumando ervas loucas / árvore resistente e valente / apanho as sobras podres / lançadas no banquete da vida / e os homens vomitam palavras no jogo real / onde só sabem dos dados e cartas viciadas» (p. 21). Como é possível, não tendo nada a escrever, deitar tudo fora? Será tudo o que se deita fora apenas um gesto de abnegação ou antecipação do nada que a morte anuncia? O homem olha para trás, revê-se como um fantasma na reminiscência sombria da infância, da mãe perdida, viaja pelo tempo até aos abismos da memória, recorda os tempos de escola, os lugares da vila onde vive, olha as velhas vestidas de negro, os homens revoltados, as manhãs fazendo-se tardes e as tardes fazendo-se noites, e escreve para si: «um dia somos assim / brincamos com o nosso passado vivo / hoje curvados esperamos esperamos / o menino adormeceu» (p. 29). E tudo se resume ao tempo que passa, à memória do tempo que passa, ao medo causado pela memória do tempo que passa. O homem assume esse medo, não o nega, não o esconde, procura antes resolvê-lo, sabendo talvez ser irresolúvel a sua própria natureza. Não é o medo de estar vivo nem o medo de estar morto, não é o medo de estar morrendo nem de ir vivendo a caminho da morte, é um medo com o qual se foge, não do qual se foge, o medo das crianças assustadas, espantadas com o seu próprio reflexo nas águas, o medo dessa noite que afirma a nossa derrota, o medo de chegar tarde ou de não chegar sequer a cumprir um voo, uma espécie de loucura controlada que resume, afinal, o quase nada que é tudo nestes poemas. Continuamos sem saber o que quer que seja acerca de Luís Paulo Meireles, mas sentimos, perdoem-nos a presunção, que já sabemos um pouco mais acerca destes poemas, afinal enunciações de um nome, de uma vida, de uma passagem pela terra.
Tudo é uma palavra enorme, pesada, uma palavra sem oponentes, onde cabem sinónimos e antónimos, é uma palavra englobante, uma palavra que engloba, inclusive, a palavra nada. Daí que tudo se confunda tanto com nada, do mesmo modo que nada se confunde com tudo. Por isso dizemos que o branco afirma o negro e vice-versa, que a noite declara o dia e vice-versa, que o homem explica a mulher e vice-versa, que entre todos os opostos há, talvez, um lugar crepuscular, indecifrável, fonte de poesia. Mas mesmo esse lugar indecifrável cabe em tudo, pois tudo é tudo, não pode deixar de ser também o lugar indecifrável que se intrometerá entre tudo e nada, sob pena de, deixando de ser também esse lugar, deixar de ser tudo. De Luís Paulo Meireles sabemos tudo, ou seja, nada. A nota de abertura assinada por Henrique Delgado, outro acerca do qual sabemos nada, ou seja, tudo, faz dele autor transmontano/migrante, «contemporâneo de m.parissy, José Luís Peixoto e Nuno Rebocho» (sic). Sabemos ainda que publicou em projectos editoriais obscuros tais como non nova sed nove e cadernos de ibn mukhane, prorrogando a obscuridade com O Portão (ed. Autor, 2000) e, mais recentemente, com Tudo (Canto Escuro, 2008). Restam-nos os poemas, porventura o que mais interessa, esse pouco mais que nada com o qual pretendemos ocupar algum do nosso tempo. São poemas breves, de verso curto (à excepção de três prosas, ou de três poemas de verso menos contido), que nos lembram, por vezes, ladainhas e lengalengas sem intenções curativas que não sejam as de recitar, ao sabor do acaso e quando convém, os segmentos da existência que nos acompanham no tempo. Mais ou menos explicitamente, estão estes poemas repletos de memórias, ou, melhor, de uma «memória esfomeada» (p. 12) que resiste ao tempo, à brancura do esquecimento, que luta contra o medo dos náufragos. «Sobrevivente do naufrágio o homem» (p. 15) que escreve olha o mundo, recorda o passado, evoca os ausentes, aguarda o fim como quem cumpre tudo sem nada: «não tenho nada a escrever nem nada a conservar / desatam as recordações esquecidas na velha mala / a lutar no tempo na espera do meu destino / deito tudo fora e mergulho numa visão enganadora / a vida é uma mentira / fugindo das regras / fumando ervas loucas / árvore resistente e valente / apanho as sobras podres / lançadas no banquete da vida / e os homens vomitam palavras no jogo real / onde só sabem dos dados e cartas viciadas» (p. 21). Como é possível, não tendo nada a escrever, deitar tudo fora? Será tudo o que se deita fora apenas um gesto de abnegação ou antecipação do nada que a morte anuncia? O homem olha para trás, revê-se como um fantasma na reminiscência sombria da infância, da mãe perdida, viaja pelo tempo até aos abismos da memória, recorda os tempos de escola, os lugares da vila onde vive, olha as velhas vestidas de negro, os homens revoltados, as manhãs fazendo-se tardes e as tardes fazendo-se noites, e escreve para si: «um dia somos assim / brincamos com o nosso passado vivo / hoje curvados esperamos esperamos / o menino adormeceu» (p. 29). E tudo se resume ao tempo que passa, à memória do tempo que passa, ao medo causado pela memória do tempo que passa. O homem assume esse medo, não o nega, não o esconde, procura antes resolvê-lo, sabendo talvez ser irresolúvel a sua própria natureza. Não é o medo de estar vivo nem o medo de estar morto, não é o medo de estar morrendo nem de ir vivendo a caminho da morte, é um medo com o qual se foge, não do qual se foge, o medo das crianças assustadas, espantadas com o seu próprio reflexo nas águas, o medo dessa noite que afirma a nossa derrota, o medo de chegar tarde ou de não chegar sequer a cumprir um voo, uma espécie de loucura controlada que resume, afinal, o quase nada que é tudo nestes poemas. Continuamos sem saber o que quer que seja acerca de Luís Paulo Meireles, mas sentimos, perdoem-nos a presunção, que já sabemos um pouco mais acerca destes poemas, afinal enunciações de um nome, de uma vida, de uma passagem pela terra.terça-feira, 19 de fevereiro de 2008
TUDO
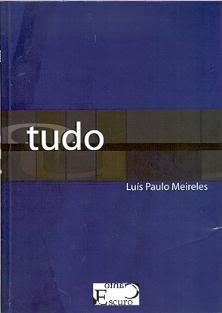 Tudo é uma palavra enorme, pesada, uma palavra sem oponentes, onde cabem sinónimos e antónimos, é uma palavra englobante, uma palavra que engloba, inclusive, a palavra nada. Daí que tudo se confunda tanto com nada, do mesmo modo que nada se confunde com tudo. Por isso dizemos que o branco afirma o negro e vice-versa, que a noite declara o dia e vice-versa, que o homem explica a mulher e vice-versa, que entre todos os opostos há, talvez, um lugar crepuscular, indecifrável, fonte de poesia. Mas mesmo esse lugar indecifrável cabe em tudo, pois tudo é tudo, não pode deixar de ser também o lugar indecifrável que se intrometerá entre tudo e nada, sob pena de, deixando de ser também esse lugar, deixar de ser tudo. De Luís Paulo Meireles sabemos tudo, ou seja, nada. A nota de abertura assinada por Henrique Delgado, outro acerca do qual sabemos nada, ou seja, tudo, faz dele autor transmontano/migrante, «contemporâneo de m.parissy, José Luís Peixoto e Nuno Rebocho» (sic). Sabemos ainda que publicou em projectos editoriais obscuros tais como non nova sed nove e cadernos de ibn mukhane, prorrogando a obscuridade com O Portão (ed. Autor, 2000) e, mais recentemente, com Tudo (Canto Escuro, 2008). Restam-nos os poemas, porventura o que mais interessa, esse pouco mais que nada com o qual pretendemos ocupar algum do nosso tempo. São poemas breves, de verso curto (à excepção de três prosas, ou de três poemas de verso menos contido), que nos lembram, por vezes, ladainhas e lengalengas sem intenções curativas que não sejam as de recitar, ao sabor do acaso e quando convém, os segmentos da existência que nos acompanham no tempo. Mais ou menos explicitamente, estão estes poemas repletos de memórias, ou, melhor, de uma «memória esfomeada» (p. 12) que resiste ao tempo, à brancura do esquecimento, que luta contra o medo dos náufragos. «Sobrevivente do naufrágio o homem» (p. 15) que escreve olha o mundo, recorda o passado, evoca os ausentes, aguarda o fim como quem cumpre tudo sem nada: «não tenho nada a escrever nem nada a conservar / desatam as recordações esquecidas na velha mala / a lutar no tempo na espera do meu destino / deito tudo fora e mergulho numa visão enganadora / a vida é uma mentira / fugindo das regras / fumando ervas loucas / árvore resistente e valente / apanho as sobras podres / lançadas no banquete da vida / e os homens vomitam palavras no jogo real / onde só sabem dos dados e cartas viciadas» (p. 21). Como é possível, não tendo nada a escrever, deitar tudo fora? Será tudo o que se deita fora apenas um gesto de abnegação ou antecipação do nada que a morte anuncia? O homem olha para trás, revê-se como um fantasma na reminiscência sombria da infância, da mãe perdida, viaja pelo tempo até aos abismos da memória, recorda os tempos de escola, os lugares da vila onde vive, olha as velhas vestidas de negro, os homens revoltados, as manhãs fazendo-se tardes e as tardes fazendo-se noites, e escreve para si: «um dia somos assim / brincamos com o nosso passado vivo / hoje curvados esperamos esperamos / o menino adormeceu» (p. 29). E tudo se resume ao tempo que passa, à memória do tempo que passa, ao medo causado pela memória do tempo que passa. O homem assume esse medo, não o nega, não o esconde, procura antes resolvê-lo, sabendo talvez ser irresolúvel a sua própria natureza. Não é o medo de estar vivo nem o medo de estar morto, não é o medo de estar morrendo nem de ir vivendo a caminho da morte, é um medo com o qual se foge, não do qual se foge, o medo das crianças assustadas, espantadas com o seu próprio reflexo nas águas, o medo dessa noite que afirma a nossa derrota, o medo de chegar tarde ou de não chegar sequer a cumprir um voo, uma espécie de loucura controlada que resume, afinal, o quase nada que é tudo nestes poemas. Continuamos sem saber o que quer que seja acerca de Luís Paulo Meireles, mas sentimos, perdoem-nos a presunção, que já sabemos um pouco mais acerca destes poemas, afinal enunciações de um nome, de uma vida, de uma passagem pela terra.
Tudo é uma palavra enorme, pesada, uma palavra sem oponentes, onde cabem sinónimos e antónimos, é uma palavra englobante, uma palavra que engloba, inclusive, a palavra nada. Daí que tudo se confunda tanto com nada, do mesmo modo que nada se confunde com tudo. Por isso dizemos que o branco afirma o negro e vice-versa, que a noite declara o dia e vice-versa, que o homem explica a mulher e vice-versa, que entre todos os opostos há, talvez, um lugar crepuscular, indecifrável, fonte de poesia. Mas mesmo esse lugar indecifrável cabe em tudo, pois tudo é tudo, não pode deixar de ser também o lugar indecifrável que se intrometerá entre tudo e nada, sob pena de, deixando de ser também esse lugar, deixar de ser tudo. De Luís Paulo Meireles sabemos tudo, ou seja, nada. A nota de abertura assinada por Henrique Delgado, outro acerca do qual sabemos nada, ou seja, tudo, faz dele autor transmontano/migrante, «contemporâneo de m.parissy, José Luís Peixoto e Nuno Rebocho» (sic). Sabemos ainda que publicou em projectos editoriais obscuros tais como non nova sed nove e cadernos de ibn mukhane, prorrogando a obscuridade com O Portão (ed. Autor, 2000) e, mais recentemente, com Tudo (Canto Escuro, 2008). Restam-nos os poemas, porventura o que mais interessa, esse pouco mais que nada com o qual pretendemos ocupar algum do nosso tempo. São poemas breves, de verso curto (à excepção de três prosas, ou de três poemas de verso menos contido), que nos lembram, por vezes, ladainhas e lengalengas sem intenções curativas que não sejam as de recitar, ao sabor do acaso e quando convém, os segmentos da existência que nos acompanham no tempo. Mais ou menos explicitamente, estão estes poemas repletos de memórias, ou, melhor, de uma «memória esfomeada» (p. 12) que resiste ao tempo, à brancura do esquecimento, que luta contra o medo dos náufragos. «Sobrevivente do naufrágio o homem» (p. 15) que escreve olha o mundo, recorda o passado, evoca os ausentes, aguarda o fim como quem cumpre tudo sem nada: «não tenho nada a escrever nem nada a conservar / desatam as recordações esquecidas na velha mala / a lutar no tempo na espera do meu destino / deito tudo fora e mergulho numa visão enganadora / a vida é uma mentira / fugindo das regras / fumando ervas loucas / árvore resistente e valente / apanho as sobras podres / lançadas no banquete da vida / e os homens vomitam palavras no jogo real / onde só sabem dos dados e cartas viciadas» (p. 21). Como é possível, não tendo nada a escrever, deitar tudo fora? Será tudo o que se deita fora apenas um gesto de abnegação ou antecipação do nada que a morte anuncia? O homem olha para trás, revê-se como um fantasma na reminiscência sombria da infância, da mãe perdida, viaja pelo tempo até aos abismos da memória, recorda os tempos de escola, os lugares da vila onde vive, olha as velhas vestidas de negro, os homens revoltados, as manhãs fazendo-se tardes e as tardes fazendo-se noites, e escreve para si: «um dia somos assim / brincamos com o nosso passado vivo / hoje curvados esperamos esperamos / o menino adormeceu» (p. 29). E tudo se resume ao tempo que passa, à memória do tempo que passa, ao medo causado pela memória do tempo que passa. O homem assume esse medo, não o nega, não o esconde, procura antes resolvê-lo, sabendo talvez ser irresolúvel a sua própria natureza. Não é o medo de estar vivo nem o medo de estar morto, não é o medo de estar morrendo nem de ir vivendo a caminho da morte, é um medo com o qual se foge, não do qual se foge, o medo das crianças assustadas, espantadas com o seu próprio reflexo nas águas, o medo dessa noite que afirma a nossa derrota, o medo de chegar tarde ou de não chegar sequer a cumprir um voo, uma espécie de loucura controlada que resume, afinal, o quase nada que é tudo nestes poemas. Continuamos sem saber o que quer que seja acerca de Luís Paulo Meireles, mas sentimos, perdoem-nos a presunção, que já sabemos um pouco mais acerca destes poemas, afinal enunciações de um nome, de uma vida, de uma passagem pela terra.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário