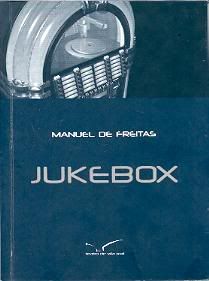
Deram à costa recentemente mais dois títulos de Manuel de Freitas (n. 1972). São eles
Jukebox (Teatro de Vila Real, Abril de 2005) e
Vai e Vem (Assírio & Alvim, Maio de 2005). Desde a sua primeira recolha de poemas,
Todos contentes e eu também (Campo das Letras, Setembro de 2000), que a bibliografia poética de Manuel de Freitas não para de crescer a um ritmo alucinante. Destaco
Os Infernos Artificiais (Frenesi, Maio de 2001),
Isilda ou a Nudez dos Códigos de Barras (Black Sun, 2001),
Game Over (& etc, Maio de 2002),
[SIC] (Assírio & Alvim, Outubro de 2002),
Beau Séjour (Assírio & Alvim, Outubro de 2003) e
Blues for Mary Jane (& etc, Março de 2004). Acrescentem-se a estes mais uma boa meia dúzia de “cadernos” ou, se quiserem, folhetos, e ensaios sobre Al Berto e Herberto Helder. Lembramos que a primeira obra de Manuel de Freitas publicada foi, precisamente, um estudo sobre a poesia do poeta de
O Medo intitulado
A Noite dos Espelhos (Frenesi, Janeiro de 1999). A relevância da poesia de Manuel de Freitas no panorama da chamada "nova poesia portuguesa" não pode ser pensada sem termos em conta outros aspectos para além daqueles que se confinam à sua obra. Como muitos outros jovens poetas da sua geração, Manuel de Freitas publica com alguma frequência recensões críticas na imprensa escrita. É co-editor de uma revista literária, a
Telhados de Vidro, e editor da Averno, cuja primeira obra publicada foi uma antologia de cariz programático:
Poetas Sem Qualidades 1994-2002 (Novembro de 2002). Se olharmos apenas para a sua obra poética, notamos uma clara inclinação para a heterodoxia. Mas depois do que inventariámos acima, dificilmente se poderá falar deste poeta como um poeta heterodoxo. É um poeta cuja ortodoxia se alicerça num gosto pelas posturas literárias ditas marginais. Os seus poemas denotam um certo equilibrismo que deixam o leitor na dúvida sobre o magma essencial daquilo que é escrito. Balanceando entre o prosaísmo de cariz confessional e o poema de recorte decadentista, a poesia de Manuel de Freitas irrompe das vísceras da memória como um olhar avesso a tudo o que possa ser instaurado sob o prisma da normalidade. Não se trata de uma poesia quotidiana, mas é uma poesia de todos os dias e da "ruína" de todos os dias, pois quando o sujeito poético parece olhar o seu objecto aquilo que evidencia nos poemas é mais o seu modo de olhar do que as qualidades reais do objecto. A ironia de Manuel de Freitas é sempre, mesmo quando ele não pretenda, uma auto-ironia. Caso contrário, como explicar tanta vitalidade literária por detrás de tanto negrume existencial? Encenação, acusarão uns – como se toda a poesia, toda a boa poesia, não fosse encenação -, desespero, arguirão outros – como se toda a poesia, toda a boa poesia, não fosse um acto de desespero. Não há que procurar limites, estabelecer fronteiras, determinar práticas, tactear no visível uma suposta invisibilidade: «Saio à rua de caneta, mas sem qualquer intenção de a utilizar. Depois, escrevo ou não escrevo sobre o que vejo, o que sinto, o que sofro. Tão simples quanto isto – e tão difícil.» - disse o poeta no n.º 12 da revista
Relâmpago. Se não tivesse intenção de utilizar a caneta, não sairia à rua na sua companhia. Certo? No entanto, que têm dito os críticos? Eduardo Pitta, no n.º 54 da revista
LER, diz que o poeta «escolheu sem rebuço o lado abjeccionista, porventura para se demarcar do modo amanuense como tantos dos seus pares instalaram a deriva pós-moderna». E acrescenta: «Manuel de Freitas é um poeta pós-beatnik em contexto saturnino». Mais tarde, o mesmo crítico falará do lado da emoção, do lado da pulsão, de uma dialéctica neo-realista. António Guerreiro, no suplemento para o qual também escreve o poeta em causa, dirá de uma «poesia como representação e expressão da vida» (2 de Agosto de 2003). Já Eduardo Prado Coelho, a propósito de
Beau Séjour, vai mais longe: «Impressiona-nos o ritmo, a cadência de quem se move segundo o movimento do próprio olhar, um estilo de cinematógrafo projectando imagens sobre um lençol branco, num tipo de escrita que muitas vezes quase resvala para a prosa, para a alusão banal, para o pormenor narrativo, mas que consegue sempre, pela escolha dos elementos que sobressaem na imagem, pelos cortes inesperados, pela montagem subtil dos efeitos da memória, inclinar-nos para a grande reflexão poética sobre o tempo e a morte» (27 de Setembro de 2003).

Simplifiquemos: a poesia de Manuel de Freitas é a poesia de um poeta nascido na província, Vale de Santarém, com coração urbano. É a poesia de um jovem poeta que cultiva a marginalidade, ainda que essa marginalidade não se alimente do próprio vómito. É uma poesia da encenação, com suas personagens fundadoras e seus cenários predilectos: a rua, as tabernas, os lugares da cultura urbana. Em suma, é uma poesia que se faz passar por aquilo que o poeta não é. Se fosse, estaria morto, internado num manicómio, condenado por crimes hediondos. Digamos que a marginalidade de agora é uma marginalidade de telemóvel na mão. E tudo isso é poético, soberbamente poético, porque tudo isso é paradoxal, é ambíguo, é contraditório e é absurdo. E se a boa poesia recusa paradigmas, o risco desta poesia é o de ser paradigmática sem querer. Que dizer então dos dois títulos mais recentes? Que
Jukebox é dedicado a Rui Pires Cabral (poeta editado pela Averno), e decalca o que este já havia introduzido em
Música Antológica & Onze Cidades. É curioso que uma das partes mais interessantes do primeiro livro de Manuel de Freitas, o tal ensaio sobre Al Berto, se intitule
Poesia e Contra-Cultura Musical. Esta relação da poesia com a música não é nova e
Jukebox nada lhe acrescenta:
«A música, não a vida, nos fere / às vezes assim». Já
Vai e Vem funciona como uma espécie de homenagem ao realizador João César Monteiro. Salientam-se as ilustrações de Filipe Abranches entre três partes de um poema que leva o título do último filme do polémico realizador português. E o poeta continuará a escrever seus versos à sombra da morte. Não duvidemos.
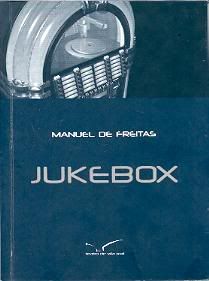 Deram à costa recentemente mais dois títulos de Manuel de Freitas (n. 1972). São eles Jukebox (Teatro de Vila Real, Abril de 2005) e Vai e Vem (Assírio & Alvim, Maio de 2005). Desde a sua primeira recolha de poemas, Todos contentes e eu também (Campo das Letras, Setembro de 2000), que a bibliografia poética de Manuel de Freitas não para de crescer a um ritmo alucinante. Destaco Os Infernos Artificiais (Frenesi, Maio de 2001), Isilda ou a Nudez dos Códigos de Barras (Black Sun, 2001), Game Over (& etc, Maio de 2002), [SIC] (Assírio & Alvim, Outubro de 2002), Beau Séjour (Assírio & Alvim, Outubro de 2003) e Blues for Mary Jane (& etc, Março de 2004). Acrescentem-se a estes mais uma boa meia dúzia de “cadernos” ou, se quiserem, folhetos, e ensaios sobre Al Berto e Herberto Helder. Lembramos que a primeira obra de Manuel de Freitas publicada foi, precisamente, um estudo sobre a poesia do poeta de O Medo intitulado A Noite dos Espelhos (Frenesi, Janeiro de 1999). A relevância da poesia de Manuel de Freitas no panorama da chamada "nova poesia portuguesa" não pode ser pensada sem termos em conta outros aspectos para além daqueles que se confinam à sua obra. Como muitos outros jovens poetas da sua geração, Manuel de Freitas publica com alguma frequência recensões críticas na imprensa escrita. É co-editor de uma revista literária, a Telhados de Vidro, e editor da Averno, cuja primeira obra publicada foi uma antologia de cariz programático: Poetas Sem Qualidades 1994-2002 (Novembro de 2002). Se olharmos apenas para a sua obra poética, notamos uma clara inclinação para a heterodoxia. Mas depois do que inventariámos acima, dificilmente se poderá falar deste poeta como um poeta heterodoxo. É um poeta cuja ortodoxia se alicerça num gosto pelas posturas literárias ditas marginais. Os seus poemas denotam um certo equilibrismo que deixam o leitor na dúvida sobre o magma essencial daquilo que é escrito. Balanceando entre o prosaísmo de cariz confessional e o poema de recorte decadentista, a poesia de Manuel de Freitas irrompe das vísceras da memória como um olhar avesso a tudo o que possa ser instaurado sob o prisma da normalidade. Não se trata de uma poesia quotidiana, mas é uma poesia de todos os dias e da "ruína" de todos os dias, pois quando o sujeito poético parece olhar o seu objecto aquilo que evidencia nos poemas é mais o seu modo de olhar do que as qualidades reais do objecto. A ironia de Manuel de Freitas é sempre, mesmo quando ele não pretenda, uma auto-ironia. Caso contrário, como explicar tanta vitalidade literária por detrás de tanto negrume existencial? Encenação, acusarão uns – como se toda a poesia, toda a boa poesia, não fosse encenação -, desespero, arguirão outros – como se toda a poesia, toda a boa poesia, não fosse um acto de desespero. Não há que procurar limites, estabelecer fronteiras, determinar práticas, tactear no visível uma suposta invisibilidade: «Saio à rua de caneta, mas sem qualquer intenção de a utilizar. Depois, escrevo ou não escrevo sobre o que vejo, o que sinto, o que sofro. Tão simples quanto isto – e tão difícil.» - disse o poeta no n.º 12 da revista Relâmpago. Se não tivesse intenção de utilizar a caneta, não sairia à rua na sua companhia. Certo? No entanto, que têm dito os críticos? Eduardo Pitta, no n.º 54 da revista LER, diz que o poeta «escolheu sem rebuço o lado abjeccionista, porventura para se demarcar do modo amanuense como tantos dos seus pares instalaram a deriva pós-moderna». E acrescenta: «Manuel de Freitas é um poeta pós-beatnik em contexto saturnino». Mais tarde, o mesmo crítico falará do lado da emoção, do lado da pulsão, de uma dialéctica neo-realista. António Guerreiro, no suplemento para o qual também escreve o poeta em causa, dirá de uma «poesia como representação e expressão da vida» (2 de Agosto de 2003). Já Eduardo Prado Coelho, a propósito de Beau Séjour, vai mais longe: «Impressiona-nos o ritmo, a cadência de quem se move segundo o movimento do próprio olhar, um estilo de cinematógrafo projectando imagens sobre um lençol branco, num tipo de escrita que muitas vezes quase resvala para a prosa, para a alusão banal, para o pormenor narrativo, mas que consegue sempre, pela escolha dos elementos que sobressaem na imagem, pelos cortes inesperados, pela montagem subtil dos efeitos da memória, inclinar-nos para a grande reflexão poética sobre o tempo e a morte» (27 de Setembro de 2003).
Deram à costa recentemente mais dois títulos de Manuel de Freitas (n. 1972). São eles Jukebox (Teatro de Vila Real, Abril de 2005) e Vai e Vem (Assírio & Alvim, Maio de 2005). Desde a sua primeira recolha de poemas, Todos contentes e eu também (Campo das Letras, Setembro de 2000), que a bibliografia poética de Manuel de Freitas não para de crescer a um ritmo alucinante. Destaco Os Infernos Artificiais (Frenesi, Maio de 2001), Isilda ou a Nudez dos Códigos de Barras (Black Sun, 2001), Game Over (& etc, Maio de 2002), [SIC] (Assírio & Alvim, Outubro de 2002), Beau Séjour (Assírio & Alvim, Outubro de 2003) e Blues for Mary Jane (& etc, Março de 2004). Acrescentem-se a estes mais uma boa meia dúzia de “cadernos” ou, se quiserem, folhetos, e ensaios sobre Al Berto e Herberto Helder. Lembramos que a primeira obra de Manuel de Freitas publicada foi, precisamente, um estudo sobre a poesia do poeta de O Medo intitulado A Noite dos Espelhos (Frenesi, Janeiro de 1999). A relevância da poesia de Manuel de Freitas no panorama da chamada "nova poesia portuguesa" não pode ser pensada sem termos em conta outros aspectos para além daqueles que se confinam à sua obra. Como muitos outros jovens poetas da sua geração, Manuel de Freitas publica com alguma frequência recensões críticas na imprensa escrita. É co-editor de uma revista literária, a Telhados de Vidro, e editor da Averno, cuja primeira obra publicada foi uma antologia de cariz programático: Poetas Sem Qualidades 1994-2002 (Novembro de 2002). Se olharmos apenas para a sua obra poética, notamos uma clara inclinação para a heterodoxia. Mas depois do que inventariámos acima, dificilmente se poderá falar deste poeta como um poeta heterodoxo. É um poeta cuja ortodoxia se alicerça num gosto pelas posturas literárias ditas marginais. Os seus poemas denotam um certo equilibrismo que deixam o leitor na dúvida sobre o magma essencial daquilo que é escrito. Balanceando entre o prosaísmo de cariz confessional e o poema de recorte decadentista, a poesia de Manuel de Freitas irrompe das vísceras da memória como um olhar avesso a tudo o que possa ser instaurado sob o prisma da normalidade. Não se trata de uma poesia quotidiana, mas é uma poesia de todos os dias e da "ruína" de todos os dias, pois quando o sujeito poético parece olhar o seu objecto aquilo que evidencia nos poemas é mais o seu modo de olhar do que as qualidades reais do objecto. A ironia de Manuel de Freitas é sempre, mesmo quando ele não pretenda, uma auto-ironia. Caso contrário, como explicar tanta vitalidade literária por detrás de tanto negrume existencial? Encenação, acusarão uns – como se toda a poesia, toda a boa poesia, não fosse encenação -, desespero, arguirão outros – como se toda a poesia, toda a boa poesia, não fosse um acto de desespero. Não há que procurar limites, estabelecer fronteiras, determinar práticas, tactear no visível uma suposta invisibilidade: «Saio à rua de caneta, mas sem qualquer intenção de a utilizar. Depois, escrevo ou não escrevo sobre o que vejo, o que sinto, o que sofro. Tão simples quanto isto – e tão difícil.» - disse o poeta no n.º 12 da revista Relâmpago. Se não tivesse intenção de utilizar a caneta, não sairia à rua na sua companhia. Certo? No entanto, que têm dito os críticos? Eduardo Pitta, no n.º 54 da revista LER, diz que o poeta «escolheu sem rebuço o lado abjeccionista, porventura para se demarcar do modo amanuense como tantos dos seus pares instalaram a deriva pós-moderna». E acrescenta: «Manuel de Freitas é um poeta pós-beatnik em contexto saturnino». Mais tarde, o mesmo crítico falará do lado da emoção, do lado da pulsão, de uma dialéctica neo-realista. António Guerreiro, no suplemento para o qual também escreve o poeta em causa, dirá de uma «poesia como representação e expressão da vida» (2 de Agosto de 2003). Já Eduardo Prado Coelho, a propósito de Beau Séjour, vai mais longe: «Impressiona-nos o ritmo, a cadência de quem se move segundo o movimento do próprio olhar, um estilo de cinematógrafo projectando imagens sobre um lençol branco, num tipo de escrita que muitas vezes quase resvala para a prosa, para a alusão banal, para o pormenor narrativo, mas que consegue sempre, pela escolha dos elementos que sobressaem na imagem, pelos cortes inesperados, pela montagem subtil dos efeitos da memória, inclinar-nos para a grande reflexão poética sobre o tempo e a morte» (27 de Setembro de 2003).  Simplifiquemos: a poesia de Manuel de Freitas é a poesia de um poeta nascido na província, Vale de Santarém, com coração urbano. É a poesia de um jovem poeta que cultiva a marginalidade, ainda que essa marginalidade não se alimente do próprio vómito. É uma poesia da encenação, com suas personagens fundadoras e seus cenários predilectos: a rua, as tabernas, os lugares da cultura urbana. Em suma, é uma poesia que se faz passar por aquilo que o poeta não é. Se fosse, estaria morto, internado num manicómio, condenado por crimes hediondos. Digamos que a marginalidade de agora é uma marginalidade de telemóvel na mão. E tudo isso é poético, soberbamente poético, porque tudo isso é paradoxal, é ambíguo, é contraditório e é absurdo. E se a boa poesia recusa paradigmas, o risco desta poesia é o de ser paradigmática sem querer. Que dizer então dos dois títulos mais recentes? Que Jukebox é dedicado a Rui Pires Cabral (poeta editado pela Averno), e decalca o que este já havia introduzido em Música Antológica & Onze Cidades. É curioso que uma das partes mais interessantes do primeiro livro de Manuel de Freitas, o tal ensaio sobre Al Berto, se intitule Poesia e Contra-Cultura Musical. Esta relação da poesia com a música não é nova e Jukebox nada lhe acrescenta: «A música, não a vida, nos fere / às vezes assim». Já Vai e Vem funciona como uma espécie de homenagem ao realizador João César Monteiro. Salientam-se as ilustrações de Filipe Abranches entre três partes de um poema que leva o título do último filme do polémico realizador português. E o poeta continuará a escrever seus versos à sombra da morte. Não duvidemos.
Simplifiquemos: a poesia de Manuel de Freitas é a poesia de um poeta nascido na província, Vale de Santarém, com coração urbano. É a poesia de um jovem poeta que cultiva a marginalidade, ainda que essa marginalidade não se alimente do próprio vómito. É uma poesia da encenação, com suas personagens fundadoras e seus cenários predilectos: a rua, as tabernas, os lugares da cultura urbana. Em suma, é uma poesia que se faz passar por aquilo que o poeta não é. Se fosse, estaria morto, internado num manicómio, condenado por crimes hediondos. Digamos que a marginalidade de agora é uma marginalidade de telemóvel na mão. E tudo isso é poético, soberbamente poético, porque tudo isso é paradoxal, é ambíguo, é contraditório e é absurdo. E se a boa poesia recusa paradigmas, o risco desta poesia é o de ser paradigmática sem querer. Que dizer então dos dois títulos mais recentes? Que Jukebox é dedicado a Rui Pires Cabral (poeta editado pela Averno), e decalca o que este já havia introduzido em Música Antológica & Onze Cidades. É curioso que uma das partes mais interessantes do primeiro livro de Manuel de Freitas, o tal ensaio sobre Al Berto, se intitule Poesia e Contra-Cultura Musical. Esta relação da poesia com a música não é nova e Jukebox nada lhe acrescenta: «A música, não a vida, nos fere / às vezes assim». Já Vai e Vem funciona como uma espécie de homenagem ao realizador João César Monteiro. Salientam-se as ilustrações de Filipe Abranches entre três partes de um poema que leva o título do último filme do polémico realizador português. E o poeta continuará a escrever seus versos à sombra da morte. Não duvidemos.
Sem comentários:
Enviar um comentário