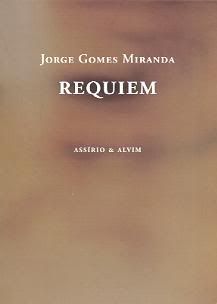 O amor e a morte são as duas experiências mais limite que a vida nos oferece. Matéria por excelência de poesia, são temas cuja abordagem filosófica e religiosa contaminou, ao longo da história da humanidade, quase sem excepção, com perspectivas dogmáticas e determinísticas. Creio haver forte subjectividade na forma como cada ser humano “vivencia” quer o amor quer a morte. Quando falamos de poesia, seja ela sobre o amor ou sobre a morte, é bom que tenhamos então em linha de conta a dimensão expressiva do acto poético. Contudo, limitar a poesia a expressão seria amputá-la na sua essência. Quando é só expressão, a poesia facilmente resvala para uma sentimentalidade e para um lirismo pouco mais do que vazios. Isso torna-se evidente, por exemplo, em certa lírica amorosa, mas também no que concerne à poesia de índole fúnebre. Temos alguns exemplos de obras bem distintas, onde a morte de entes queridos suscitou matéria poética com resultados bem distintos: Cicatriz, de Teresa Rita Lopes, Agora e na Hora da nossa Morte, de José Agostinho Baptista, Deste Lado da Morte Ninguém Responde, de Pedro Sena-Lino, etc. São livros, todos eles, marcados pelo estigma da morte de alguém, quase sempre familiares do núcleo mais restrito, cuja proximidade com o autor inspirou reflexões, liturgias, clamores, arrumações íntimas, num tom mais ou menos declamatório, quase sempre mais catártico do que reflexivo. Sabemos que a forma como cada indivíduo reage à morte dos outros, consciência da nossa própria morte, difere de caso para caso: muitas vezes ela funciona como princípio da conversão, tanto no sentido do divino como no sentido do mundano; outras vezes a consciência da morte impulsiona uma espécie de abnegação cujas consequências podem ser as mais diversificadas; mas há ainda, entre outros, os casos daqueles nos quais a morte opera em sentido pedagógico, ou seja, como aprendizagem da vida, do que é estar vivo. Na poesia portuguesa mais actual a morte ocupa lugar quase omnipresente. De facto, há poucos poetas da vida e, talvez, demasiados poetas da morte. Jorge Gomes Miranda (n. 1965), que começou a publicar há precisamente dez anos (O que Nos Protege, Pedra Formosa, 1995), surge-nos agora com um Requiem. Autores com os quais tem claras afinidades, sobretudo o caso evidente de Manuel de Freitas, têm abordado o tema de modo pungente. Seria por isso, mas não só, de esperar um pouco mais deste Requiem agora proposto. Poeta obstinado, da resistência e da insubmissão, como claramente se pôde constatar nos excelentes O Caçador de Tempestades (& etc, 2004) e em Pontos Luminosos (Averno, 2004), Jorge Gomes Miranda não consegue evitar a esparrela lamuriante a que o tema se predispõe. Não que este não seja também um livro de resistência. É-o, por um lado, de resistência ao esquecimento, por outro lado, de resistência aos apelos do divino. Isso fica explícito quando num dos poemas finais o poeta diz: «não cairei / rendido a teus pés, / divino nada» (p. 88). No entanto, trata-se de dois conjuntos de poemas desiguais, focados no desaparecimento de entes queridos, onde o que há de melhor são as interrogações sobre a morte e o que há de pior é a memória descritiva dos mortos. Há mesmo alguns poemas que chegam a ser confrangedores, pela sua exagerada falta de pudor: «O sangue escorria ainda pelo nariz / tivemos dificuldade em estancá-lo, / estavas tu deitada no caixão. // Demora o tempo que precisares, / minha querida, a chorar / aqueles que choram por ti» (p. 32). Por mais do que uma vez, Jorge Gomes Miranda remete-nos para a ideia da «inútil função consoladora da poesia» (p. 11). Ficamos porém com a sensação, por mais do que uma vez, que a poesia onde tal sucede não é senão uma poesia inutilmente desconsolada. A busca de um apaziguamento para a dor da perda, a dor do desaparecimento, é legítima. Brindar o leitor com essa lamúria é que me parece parca herança. Salva-se o livro, então, por aqueles poemas onde a morte sintetiza a vida: «Um abismo de silêncio / abriu-se na casa. // Funâmbulo / entre dois tempos: / o passado, lenitivo / o futuro, ameaçador. // Pelas ruas, tal um verme, / rasteja o presente» (p. 30). Mas também por um substancial conjunto de poemas caracterizados pela toada interrogativa, pelas dúvidas, questões que a morte levanta àqueles que ficam vivos a assistir ao eterno combate entre a memória e o esquecimento. Porque, no fundo, se morremos um pouco com aqueles que nos morrem, é também verdade que aqueles que nos morrem vivem um pouco dentro de nós.
O amor e a morte são as duas experiências mais limite que a vida nos oferece. Matéria por excelência de poesia, são temas cuja abordagem filosófica e religiosa contaminou, ao longo da história da humanidade, quase sem excepção, com perspectivas dogmáticas e determinísticas. Creio haver forte subjectividade na forma como cada ser humano “vivencia” quer o amor quer a morte. Quando falamos de poesia, seja ela sobre o amor ou sobre a morte, é bom que tenhamos então em linha de conta a dimensão expressiva do acto poético. Contudo, limitar a poesia a expressão seria amputá-la na sua essência. Quando é só expressão, a poesia facilmente resvala para uma sentimentalidade e para um lirismo pouco mais do que vazios. Isso torna-se evidente, por exemplo, em certa lírica amorosa, mas também no que concerne à poesia de índole fúnebre. Temos alguns exemplos de obras bem distintas, onde a morte de entes queridos suscitou matéria poética com resultados bem distintos: Cicatriz, de Teresa Rita Lopes, Agora e na Hora da nossa Morte, de José Agostinho Baptista, Deste Lado da Morte Ninguém Responde, de Pedro Sena-Lino, etc. São livros, todos eles, marcados pelo estigma da morte de alguém, quase sempre familiares do núcleo mais restrito, cuja proximidade com o autor inspirou reflexões, liturgias, clamores, arrumações íntimas, num tom mais ou menos declamatório, quase sempre mais catártico do que reflexivo. Sabemos que a forma como cada indivíduo reage à morte dos outros, consciência da nossa própria morte, difere de caso para caso: muitas vezes ela funciona como princípio da conversão, tanto no sentido do divino como no sentido do mundano; outras vezes a consciência da morte impulsiona uma espécie de abnegação cujas consequências podem ser as mais diversificadas; mas há ainda, entre outros, os casos daqueles nos quais a morte opera em sentido pedagógico, ou seja, como aprendizagem da vida, do que é estar vivo. Na poesia portuguesa mais actual a morte ocupa lugar quase omnipresente. De facto, há poucos poetas da vida e, talvez, demasiados poetas da morte. Jorge Gomes Miranda (n. 1965), que começou a publicar há precisamente dez anos (O que Nos Protege, Pedra Formosa, 1995), surge-nos agora com um Requiem. Autores com os quais tem claras afinidades, sobretudo o caso evidente de Manuel de Freitas, têm abordado o tema de modo pungente. Seria por isso, mas não só, de esperar um pouco mais deste Requiem agora proposto. Poeta obstinado, da resistência e da insubmissão, como claramente se pôde constatar nos excelentes O Caçador de Tempestades (& etc, 2004) e em Pontos Luminosos (Averno, 2004), Jorge Gomes Miranda não consegue evitar a esparrela lamuriante a que o tema se predispõe. Não que este não seja também um livro de resistência. É-o, por um lado, de resistência ao esquecimento, por outro lado, de resistência aos apelos do divino. Isso fica explícito quando num dos poemas finais o poeta diz: «não cairei / rendido a teus pés, / divino nada» (p. 88). No entanto, trata-se de dois conjuntos de poemas desiguais, focados no desaparecimento de entes queridos, onde o que há de melhor são as interrogações sobre a morte e o que há de pior é a memória descritiva dos mortos. Há mesmo alguns poemas que chegam a ser confrangedores, pela sua exagerada falta de pudor: «O sangue escorria ainda pelo nariz / tivemos dificuldade em estancá-lo, / estavas tu deitada no caixão. // Demora o tempo que precisares, / minha querida, a chorar / aqueles que choram por ti» (p. 32). Por mais do que uma vez, Jorge Gomes Miranda remete-nos para a ideia da «inútil função consoladora da poesia» (p. 11). Ficamos porém com a sensação, por mais do que uma vez, que a poesia onde tal sucede não é senão uma poesia inutilmente desconsolada. A busca de um apaziguamento para a dor da perda, a dor do desaparecimento, é legítima. Brindar o leitor com essa lamúria é que me parece parca herança. Salva-se o livro, então, por aqueles poemas onde a morte sintetiza a vida: «Um abismo de silêncio / abriu-se na casa. // Funâmbulo / entre dois tempos: / o passado, lenitivo / o futuro, ameaçador. // Pelas ruas, tal um verme, / rasteja o presente» (p. 30). Mas também por um substancial conjunto de poemas caracterizados pela toada interrogativa, pelas dúvidas, questões que a morte levanta àqueles que ficam vivos a assistir ao eterno combate entre a memória e o esquecimento. Porque, no fundo, se morremos um pouco com aqueles que nos morrem, é também verdade que aqueles que nos morrem vivem um pouco dentro de nós.quarta-feira, 28 de dezembro de 2005
REQUIEM
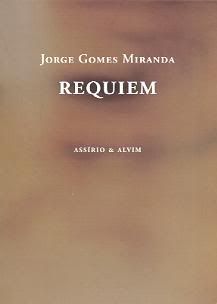 O amor e a morte são as duas experiências mais limite que a vida nos oferece. Matéria por excelência de poesia, são temas cuja abordagem filosófica e religiosa contaminou, ao longo da história da humanidade, quase sem excepção, com perspectivas dogmáticas e determinísticas. Creio haver forte subjectividade na forma como cada ser humano “vivencia” quer o amor quer a morte. Quando falamos de poesia, seja ela sobre o amor ou sobre a morte, é bom que tenhamos então em linha de conta a dimensão expressiva do acto poético. Contudo, limitar a poesia a expressão seria amputá-la na sua essência. Quando é só expressão, a poesia facilmente resvala para uma sentimentalidade e para um lirismo pouco mais do que vazios. Isso torna-se evidente, por exemplo, em certa lírica amorosa, mas também no que concerne à poesia de índole fúnebre. Temos alguns exemplos de obras bem distintas, onde a morte de entes queridos suscitou matéria poética com resultados bem distintos: Cicatriz, de Teresa Rita Lopes, Agora e na Hora da nossa Morte, de José Agostinho Baptista, Deste Lado da Morte Ninguém Responde, de Pedro Sena-Lino, etc. São livros, todos eles, marcados pelo estigma da morte de alguém, quase sempre familiares do núcleo mais restrito, cuja proximidade com o autor inspirou reflexões, liturgias, clamores, arrumações íntimas, num tom mais ou menos declamatório, quase sempre mais catártico do que reflexivo. Sabemos que a forma como cada indivíduo reage à morte dos outros, consciência da nossa própria morte, difere de caso para caso: muitas vezes ela funciona como princípio da conversão, tanto no sentido do divino como no sentido do mundano; outras vezes a consciência da morte impulsiona uma espécie de abnegação cujas consequências podem ser as mais diversificadas; mas há ainda, entre outros, os casos daqueles nos quais a morte opera em sentido pedagógico, ou seja, como aprendizagem da vida, do que é estar vivo. Na poesia portuguesa mais actual a morte ocupa lugar quase omnipresente. De facto, há poucos poetas da vida e, talvez, demasiados poetas da morte. Jorge Gomes Miranda (n. 1965), que começou a publicar há precisamente dez anos (O que Nos Protege, Pedra Formosa, 1995), surge-nos agora com um Requiem. Autores com os quais tem claras afinidades, sobretudo o caso evidente de Manuel de Freitas, têm abordado o tema de modo pungente. Seria por isso, mas não só, de esperar um pouco mais deste Requiem agora proposto. Poeta obstinado, da resistência e da insubmissão, como claramente se pôde constatar nos excelentes O Caçador de Tempestades (& etc, 2004) e em Pontos Luminosos (Averno, 2004), Jorge Gomes Miranda não consegue evitar a esparrela lamuriante a que o tema se predispõe. Não que este não seja também um livro de resistência. É-o, por um lado, de resistência ao esquecimento, por outro lado, de resistência aos apelos do divino. Isso fica explícito quando num dos poemas finais o poeta diz: «não cairei / rendido a teus pés, / divino nada» (p. 88). No entanto, trata-se de dois conjuntos de poemas desiguais, focados no desaparecimento de entes queridos, onde o que há de melhor são as interrogações sobre a morte e o que há de pior é a memória descritiva dos mortos. Há mesmo alguns poemas que chegam a ser confrangedores, pela sua exagerada falta de pudor: «O sangue escorria ainda pelo nariz / tivemos dificuldade em estancá-lo, / estavas tu deitada no caixão. // Demora o tempo que precisares, / minha querida, a chorar / aqueles que choram por ti» (p. 32). Por mais do que uma vez, Jorge Gomes Miranda remete-nos para a ideia da «inútil função consoladora da poesia» (p. 11). Ficamos porém com a sensação, por mais do que uma vez, que a poesia onde tal sucede não é senão uma poesia inutilmente desconsolada. A busca de um apaziguamento para a dor da perda, a dor do desaparecimento, é legítima. Brindar o leitor com essa lamúria é que me parece parca herança. Salva-se o livro, então, por aqueles poemas onde a morte sintetiza a vida: «Um abismo de silêncio / abriu-se na casa. // Funâmbulo / entre dois tempos: / o passado, lenitivo / o futuro, ameaçador. // Pelas ruas, tal um verme, / rasteja o presente» (p. 30). Mas também por um substancial conjunto de poemas caracterizados pela toada interrogativa, pelas dúvidas, questões que a morte levanta àqueles que ficam vivos a assistir ao eterno combate entre a memória e o esquecimento. Porque, no fundo, se morremos um pouco com aqueles que nos morrem, é também verdade que aqueles que nos morrem vivem um pouco dentro de nós.
O amor e a morte são as duas experiências mais limite que a vida nos oferece. Matéria por excelência de poesia, são temas cuja abordagem filosófica e religiosa contaminou, ao longo da história da humanidade, quase sem excepção, com perspectivas dogmáticas e determinísticas. Creio haver forte subjectividade na forma como cada ser humano “vivencia” quer o amor quer a morte. Quando falamos de poesia, seja ela sobre o amor ou sobre a morte, é bom que tenhamos então em linha de conta a dimensão expressiva do acto poético. Contudo, limitar a poesia a expressão seria amputá-la na sua essência. Quando é só expressão, a poesia facilmente resvala para uma sentimentalidade e para um lirismo pouco mais do que vazios. Isso torna-se evidente, por exemplo, em certa lírica amorosa, mas também no que concerne à poesia de índole fúnebre. Temos alguns exemplos de obras bem distintas, onde a morte de entes queridos suscitou matéria poética com resultados bem distintos: Cicatriz, de Teresa Rita Lopes, Agora e na Hora da nossa Morte, de José Agostinho Baptista, Deste Lado da Morte Ninguém Responde, de Pedro Sena-Lino, etc. São livros, todos eles, marcados pelo estigma da morte de alguém, quase sempre familiares do núcleo mais restrito, cuja proximidade com o autor inspirou reflexões, liturgias, clamores, arrumações íntimas, num tom mais ou menos declamatório, quase sempre mais catártico do que reflexivo. Sabemos que a forma como cada indivíduo reage à morte dos outros, consciência da nossa própria morte, difere de caso para caso: muitas vezes ela funciona como princípio da conversão, tanto no sentido do divino como no sentido do mundano; outras vezes a consciência da morte impulsiona uma espécie de abnegação cujas consequências podem ser as mais diversificadas; mas há ainda, entre outros, os casos daqueles nos quais a morte opera em sentido pedagógico, ou seja, como aprendizagem da vida, do que é estar vivo. Na poesia portuguesa mais actual a morte ocupa lugar quase omnipresente. De facto, há poucos poetas da vida e, talvez, demasiados poetas da morte. Jorge Gomes Miranda (n. 1965), que começou a publicar há precisamente dez anos (O que Nos Protege, Pedra Formosa, 1995), surge-nos agora com um Requiem. Autores com os quais tem claras afinidades, sobretudo o caso evidente de Manuel de Freitas, têm abordado o tema de modo pungente. Seria por isso, mas não só, de esperar um pouco mais deste Requiem agora proposto. Poeta obstinado, da resistência e da insubmissão, como claramente se pôde constatar nos excelentes O Caçador de Tempestades (& etc, 2004) e em Pontos Luminosos (Averno, 2004), Jorge Gomes Miranda não consegue evitar a esparrela lamuriante a que o tema se predispõe. Não que este não seja também um livro de resistência. É-o, por um lado, de resistência ao esquecimento, por outro lado, de resistência aos apelos do divino. Isso fica explícito quando num dos poemas finais o poeta diz: «não cairei / rendido a teus pés, / divino nada» (p. 88). No entanto, trata-se de dois conjuntos de poemas desiguais, focados no desaparecimento de entes queridos, onde o que há de melhor são as interrogações sobre a morte e o que há de pior é a memória descritiva dos mortos. Há mesmo alguns poemas que chegam a ser confrangedores, pela sua exagerada falta de pudor: «O sangue escorria ainda pelo nariz / tivemos dificuldade em estancá-lo, / estavas tu deitada no caixão. // Demora o tempo que precisares, / minha querida, a chorar / aqueles que choram por ti» (p. 32). Por mais do que uma vez, Jorge Gomes Miranda remete-nos para a ideia da «inútil função consoladora da poesia» (p. 11). Ficamos porém com a sensação, por mais do que uma vez, que a poesia onde tal sucede não é senão uma poesia inutilmente desconsolada. A busca de um apaziguamento para a dor da perda, a dor do desaparecimento, é legítima. Brindar o leitor com essa lamúria é que me parece parca herança. Salva-se o livro, então, por aqueles poemas onde a morte sintetiza a vida: «Um abismo de silêncio / abriu-se na casa. // Funâmbulo / entre dois tempos: / o passado, lenitivo / o futuro, ameaçador. // Pelas ruas, tal um verme, / rasteja o presente» (p. 30). Mas também por um substancial conjunto de poemas caracterizados pela toada interrogativa, pelas dúvidas, questões que a morte levanta àqueles que ficam vivos a assistir ao eterno combate entre a memória e o esquecimento. Porque, no fundo, se morremos um pouco com aqueles que nos morrem, é também verdade que aqueles que nos morrem vivem um pouco dentro de nós.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário