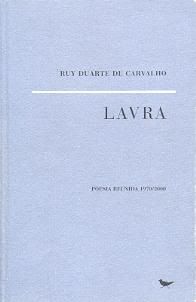 Só a absurda superabundância de livros de poesia vindos a lume nos meses de Novembro e de Dezembro, tendo em vista a orgia consumista do Natal, pode explicar a desatenção a que são sujeitas certas obras. É o caso deste Lavra, reunião de 30 anos de trabalho poético pelo punho de Ruy Duarte de Carvalho (n. 1941). Nascido escalabitano, optou o poeta por naturalizar-se angolano decorria o ano de 1963. Da sua biografia importa reter a formação em Antropologia, claramente denunciada em vários momentos de uma poesia que começou a tomar forma em 1972 com o livro Chão de oferta. Ao corpo poético (des)conhecido, que vai do título inicial a Observação directa (2000), juntam-se mais dois conjuntos de poemas, compostos de versos datados entre 1971 e 1998, com os títulos singelos Diário (1993-1998) e Adenda. Não se tratando exclusivamente de uma obra reunida, esta é principalmente uma obra revisitada, pelo que alguns poemas, como indicado pelo próprio autor em nota de abertura, terão sido ligeiramente modificados. Termina Ruy Duarte de Carvalho essa nota chamando a este um «volume de memórias». Pois bem, ao leitor desprevenido parecerá este volume tudo menos um «volume de memórias». Bastará olhar para o aspecto gráfico de alguns poemas, para que o sentido corrente dado à expressão seja aqui tomado por mera provocação. Por outro lado, se tivermos em conta que um «volume de memórias» pode ser algo mais do que um confessionário ou um depósito de vivências, então justifica-se e adquire sentido designá-lo dessa maneira. O que extraímos desta lavoura são várias e diversificadas configurações da memória, desiguais, talvez, na sua qualidade poética, no que esta pode ter de imagético. A proveniência dessas imagens, das imagens que nos configuram a memória, não se reduz às experiências vividas. Elas virão tanto da experiência como dos mitos mais íntimos que ligam o homem à terra, que o unem às forças da natureza, numa interdependência acerca da qual se faz ciência mas também se pode fazer poesia. A meio desta Lavra há um livro de 1982 - ondula, savana branca - que pode ser interpretado como uma das chaves para a decifração desta poesia. Nesse livro o poeta procurou transformar «vários testemunhos da expressão oral africana» (oráculos, profecias, ritos, canções, ensinamentos, litanias, iniciações, etc.) em poemas na língua de Camões. A este trabalho de transformação corresponde uma atitude poética que consiste na captação de sinais através da confirmação dos mesmos «no encontro da memória com a matriz» (p. 229). É precisamente esta noção de sinal que encontramos na Arte Poética que abre o livro Hábito da Terra (1988), mas que percorre toda a obra desde o início, quer quando assume uma dimensão mais erótica (Exercícios de crueldade, 1978), quer quando envereda por uma dimensão mais irónica (Ordem de esquecimento, 1997). São estes sinais, sinais vindos da terra, sinais remotos que perduram ao longo de gerações, que ajudam a traçar as rotas e as coordenadas dos lugares de onde esta poesia emerge. Talvez por isso mesmo estes poemas não resistam a classificações tão relativas como as de herméticos, iniciáticos, etnográficos, o que quer que seja. O que lhes vislumbro de mais interessante é a forma como procuram superar uma teoria demiúrgica da representação, segundo a qual «a representação de uma coisa qualquer faz-se por meio do corpo, imitando o corpo aquilo que se quer representar» (Platão, Crátilo). Nestes poemas parece tentar-se uma fusão do corpo com a terra, ou seja, com o objecto da representação, estando sucessivas vezes patente essa equivalência entre os reinos animal e mineral. Como nesse poema soberbo intitulado justamente Sinal (p. 128), onde a glorificação da chuva nos aparece cantada desta forma: «E aquela chuva aproveitou aos fósseis e houve minerais / que se animaram e até pedras comuns a transmudar-se em carne» (p. 129). Esta é, deste modo, uma poesia onde a palavra é colocada na sua função original, isto é, na função de dar origem.
Só a absurda superabundância de livros de poesia vindos a lume nos meses de Novembro e de Dezembro, tendo em vista a orgia consumista do Natal, pode explicar a desatenção a que são sujeitas certas obras. É o caso deste Lavra, reunião de 30 anos de trabalho poético pelo punho de Ruy Duarte de Carvalho (n. 1941). Nascido escalabitano, optou o poeta por naturalizar-se angolano decorria o ano de 1963. Da sua biografia importa reter a formação em Antropologia, claramente denunciada em vários momentos de uma poesia que começou a tomar forma em 1972 com o livro Chão de oferta. Ao corpo poético (des)conhecido, que vai do título inicial a Observação directa (2000), juntam-se mais dois conjuntos de poemas, compostos de versos datados entre 1971 e 1998, com os títulos singelos Diário (1993-1998) e Adenda. Não se tratando exclusivamente de uma obra reunida, esta é principalmente uma obra revisitada, pelo que alguns poemas, como indicado pelo próprio autor em nota de abertura, terão sido ligeiramente modificados. Termina Ruy Duarte de Carvalho essa nota chamando a este um «volume de memórias». Pois bem, ao leitor desprevenido parecerá este volume tudo menos um «volume de memórias». Bastará olhar para o aspecto gráfico de alguns poemas, para que o sentido corrente dado à expressão seja aqui tomado por mera provocação. Por outro lado, se tivermos em conta que um «volume de memórias» pode ser algo mais do que um confessionário ou um depósito de vivências, então justifica-se e adquire sentido designá-lo dessa maneira. O que extraímos desta lavoura são várias e diversificadas configurações da memória, desiguais, talvez, na sua qualidade poética, no que esta pode ter de imagético. A proveniência dessas imagens, das imagens que nos configuram a memória, não se reduz às experiências vividas. Elas virão tanto da experiência como dos mitos mais íntimos que ligam o homem à terra, que o unem às forças da natureza, numa interdependência acerca da qual se faz ciência mas também se pode fazer poesia. A meio desta Lavra há um livro de 1982 - ondula, savana branca - que pode ser interpretado como uma das chaves para a decifração desta poesia. Nesse livro o poeta procurou transformar «vários testemunhos da expressão oral africana» (oráculos, profecias, ritos, canções, ensinamentos, litanias, iniciações, etc.) em poemas na língua de Camões. A este trabalho de transformação corresponde uma atitude poética que consiste na captação de sinais através da confirmação dos mesmos «no encontro da memória com a matriz» (p. 229). É precisamente esta noção de sinal que encontramos na Arte Poética que abre o livro Hábito da Terra (1988), mas que percorre toda a obra desde o início, quer quando assume uma dimensão mais erótica (Exercícios de crueldade, 1978), quer quando envereda por uma dimensão mais irónica (Ordem de esquecimento, 1997). São estes sinais, sinais vindos da terra, sinais remotos que perduram ao longo de gerações, que ajudam a traçar as rotas e as coordenadas dos lugares de onde esta poesia emerge. Talvez por isso mesmo estes poemas não resistam a classificações tão relativas como as de herméticos, iniciáticos, etnográficos, o que quer que seja. O que lhes vislumbro de mais interessante é a forma como procuram superar uma teoria demiúrgica da representação, segundo a qual «a representação de uma coisa qualquer faz-se por meio do corpo, imitando o corpo aquilo que se quer representar» (Platão, Crátilo). Nestes poemas parece tentar-se uma fusão do corpo com a terra, ou seja, com o objecto da representação, estando sucessivas vezes patente essa equivalência entre os reinos animal e mineral. Como nesse poema soberbo intitulado justamente Sinal (p. 128), onde a glorificação da chuva nos aparece cantada desta forma: «E aquela chuva aproveitou aos fósseis e houve minerais / que se animaram e até pedras comuns a transmudar-se em carne» (p. 129). Esta é, deste modo, uma poesia onde a palavra é colocada na sua função original, isto é, na função de dar origem.domingo, 5 de março de 2006
LAVRA
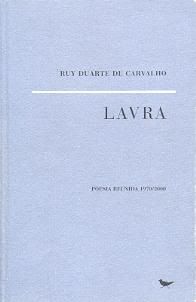 Só a absurda superabundância de livros de poesia vindos a lume nos meses de Novembro e de Dezembro, tendo em vista a orgia consumista do Natal, pode explicar a desatenção a que são sujeitas certas obras. É o caso deste Lavra, reunião de 30 anos de trabalho poético pelo punho de Ruy Duarte de Carvalho (n. 1941). Nascido escalabitano, optou o poeta por naturalizar-se angolano decorria o ano de 1963. Da sua biografia importa reter a formação em Antropologia, claramente denunciada em vários momentos de uma poesia que começou a tomar forma em 1972 com o livro Chão de oferta. Ao corpo poético (des)conhecido, que vai do título inicial a Observação directa (2000), juntam-se mais dois conjuntos de poemas, compostos de versos datados entre 1971 e 1998, com os títulos singelos Diário (1993-1998) e Adenda. Não se tratando exclusivamente de uma obra reunida, esta é principalmente uma obra revisitada, pelo que alguns poemas, como indicado pelo próprio autor em nota de abertura, terão sido ligeiramente modificados. Termina Ruy Duarte de Carvalho essa nota chamando a este um «volume de memórias». Pois bem, ao leitor desprevenido parecerá este volume tudo menos um «volume de memórias». Bastará olhar para o aspecto gráfico de alguns poemas, para que o sentido corrente dado à expressão seja aqui tomado por mera provocação. Por outro lado, se tivermos em conta que um «volume de memórias» pode ser algo mais do que um confessionário ou um depósito de vivências, então justifica-se e adquire sentido designá-lo dessa maneira. O que extraímos desta lavoura são várias e diversificadas configurações da memória, desiguais, talvez, na sua qualidade poética, no que esta pode ter de imagético. A proveniência dessas imagens, das imagens que nos configuram a memória, não se reduz às experiências vividas. Elas virão tanto da experiência como dos mitos mais íntimos que ligam o homem à terra, que o unem às forças da natureza, numa interdependência acerca da qual se faz ciência mas também se pode fazer poesia. A meio desta Lavra há um livro de 1982 - ondula, savana branca - que pode ser interpretado como uma das chaves para a decifração desta poesia. Nesse livro o poeta procurou transformar «vários testemunhos da expressão oral africana» (oráculos, profecias, ritos, canções, ensinamentos, litanias, iniciações, etc.) em poemas na língua de Camões. A este trabalho de transformação corresponde uma atitude poética que consiste na captação de sinais através da confirmação dos mesmos «no encontro da memória com a matriz» (p. 229). É precisamente esta noção de sinal que encontramos na Arte Poética que abre o livro Hábito da Terra (1988), mas que percorre toda a obra desde o início, quer quando assume uma dimensão mais erótica (Exercícios de crueldade, 1978), quer quando envereda por uma dimensão mais irónica (Ordem de esquecimento, 1997). São estes sinais, sinais vindos da terra, sinais remotos que perduram ao longo de gerações, que ajudam a traçar as rotas e as coordenadas dos lugares de onde esta poesia emerge. Talvez por isso mesmo estes poemas não resistam a classificações tão relativas como as de herméticos, iniciáticos, etnográficos, o que quer que seja. O que lhes vislumbro de mais interessante é a forma como procuram superar uma teoria demiúrgica da representação, segundo a qual «a representação de uma coisa qualquer faz-se por meio do corpo, imitando o corpo aquilo que se quer representar» (Platão, Crátilo). Nestes poemas parece tentar-se uma fusão do corpo com a terra, ou seja, com o objecto da representação, estando sucessivas vezes patente essa equivalência entre os reinos animal e mineral. Como nesse poema soberbo intitulado justamente Sinal (p. 128), onde a glorificação da chuva nos aparece cantada desta forma: «E aquela chuva aproveitou aos fósseis e houve minerais / que se animaram e até pedras comuns a transmudar-se em carne» (p. 129). Esta é, deste modo, uma poesia onde a palavra é colocada na sua função original, isto é, na função de dar origem.
Só a absurda superabundância de livros de poesia vindos a lume nos meses de Novembro e de Dezembro, tendo em vista a orgia consumista do Natal, pode explicar a desatenção a que são sujeitas certas obras. É o caso deste Lavra, reunião de 30 anos de trabalho poético pelo punho de Ruy Duarte de Carvalho (n. 1941). Nascido escalabitano, optou o poeta por naturalizar-se angolano decorria o ano de 1963. Da sua biografia importa reter a formação em Antropologia, claramente denunciada em vários momentos de uma poesia que começou a tomar forma em 1972 com o livro Chão de oferta. Ao corpo poético (des)conhecido, que vai do título inicial a Observação directa (2000), juntam-se mais dois conjuntos de poemas, compostos de versos datados entre 1971 e 1998, com os títulos singelos Diário (1993-1998) e Adenda. Não se tratando exclusivamente de uma obra reunida, esta é principalmente uma obra revisitada, pelo que alguns poemas, como indicado pelo próprio autor em nota de abertura, terão sido ligeiramente modificados. Termina Ruy Duarte de Carvalho essa nota chamando a este um «volume de memórias». Pois bem, ao leitor desprevenido parecerá este volume tudo menos um «volume de memórias». Bastará olhar para o aspecto gráfico de alguns poemas, para que o sentido corrente dado à expressão seja aqui tomado por mera provocação. Por outro lado, se tivermos em conta que um «volume de memórias» pode ser algo mais do que um confessionário ou um depósito de vivências, então justifica-se e adquire sentido designá-lo dessa maneira. O que extraímos desta lavoura são várias e diversificadas configurações da memória, desiguais, talvez, na sua qualidade poética, no que esta pode ter de imagético. A proveniência dessas imagens, das imagens que nos configuram a memória, não se reduz às experiências vividas. Elas virão tanto da experiência como dos mitos mais íntimos que ligam o homem à terra, que o unem às forças da natureza, numa interdependência acerca da qual se faz ciência mas também se pode fazer poesia. A meio desta Lavra há um livro de 1982 - ondula, savana branca - que pode ser interpretado como uma das chaves para a decifração desta poesia. Nesse livro o poeta procurou transformar «vários testemunhos da expressão oral africana» (oráculos, profecias, ritos, canções, ensinamentos, litanias, iniciações, etc.) em poemas na língua de Camões. A este trabalho de transformação corresponde uma atitude poética que consiste na captação de sinais através da confirmação dos mesmos «no encontro da memória com a matriz» (p. 229). É precisamente esta noção de sinal que encontramos na Arte Poética que abre o livro Hábito da Terra (1988), mas que percorre toda a obra desde o início, quer quando assume uma dimensão mais erótica (Exercícios de crueldade, 1978), quer quando envereda por uma dimensão mais irónica (Ordem de esquecimento, 1997). São estes sinais, sinais vindos da terra, sinais remotos que perduram ao longo de gerações, que ajudam a traçar as rotas e as coordenadas dos lugares de onde esta poesia emerge. Talvez por isso mesmo estes poemas não resistam a classificações tão relativas como as de herméticos, iniciáticos, etnográficos, o que quer que seja. O que lhes vislumbro de mais interessante é a forma como procuram superar uma teoria demiúrgica da representação, segundo a qual «a representação de uma coisa qualquer faz-se por meio do corpo, imitando o corpo aquilo que se quer representar» (Platão, Crátilo). Nestes poemas parece tentar-se uma fusão do corpo com a terra, ou seja, com o objecto da representação, estando sucessivas vezes patente essa equivalência entre os reinos animal e mineral. Como nesse poema soberbo intitulado justamente Sinal (p. 128), onde a glorificação da chuva nos aparece cantada desta forma: «E aquela chuva aproveitou aos fósseis e houve minerais / que se animaram e até pedras comuns a transmudar-se em carne» (p. 129). Esta é, deste modo, uma poesia onde a palavra é colocada na sua função original, isto é, na função de dar origem.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário