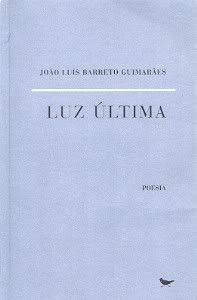 Há Violinos na Tribo, publicado em edição de autor decorria o ano de 1989, foi o primeiro livro de João Luís Barreto Guimarães (3 de Junho de 1967). Seguiram-se dois livros, todos posteriormente reeditados (e rasurados) em conjunto sob o título 3 (Gótica, Maio de 2001), onde se propunha, entre outras coisas, uma (des)construção lúdica do soneto. Essa inclinação para o jogo, marcada nos primeiros livros por uma componente formal mais precisa, nunca se perdeu na poesia de João Luís Barreto Guimarães. Ainda assim, desde o excelente Lugares Comuns (2000) que têm sido operadas algumas transformações (plásticas) nesta poesia. Eu diria que o essencial permanece, embora assumindo soluções formais diversas. O essencial, neste caso, resulta daquilo que quotidianamente se vai arrancando ao mundo e se pode constituir sob a forma de poesia: «a poesia está nas coisas / (pão quente) / destapa-a» (p. 27). É esse trabalho de ver, o que consubstancia o labor poético. Não de ver para além do que está, mas de conseguir ver no que está algo mais do que aquilo que nos permite um olhar distraído. Neste sentido, esta é uma poesia de olhos bem abertos. É uma poesia que busca no comezinho a luz que a insensibilidade apaga, a mesma insensibilidade que lança sobre as coisas de todos os dias uma indiferente banalidade. Epígrafes de Luís Quintais - Diz o que vês. - e de Jorge Gomes Miranda - Vê. Atenta. Anota. -, logo a abrir, indicam-nos o caminho. Outros autores aparecem citados (O’Neill, Luiza Neto Jorge, Philip Larkin, António Nobre), evocados (William Carlos Williams, Al-Mu’ tamid), brindados (Pedro Mexia, Adilia Lopes, João Miguel Fernandes Jorge). Há ainda Pollock, Gracinda Candeias, Dvorák, Marc Tardue, numa confluência amena de vivências culturais com outras mais domésticas. Esse tom culto e, por vezes, desnecessariamente adornado é, talvez, o aspecto menos interessante destes poemas. Mas tudo se salva por uma ironia bem condimentada e por uma invejável habilidade formal, onde o biográfico serve de contorno aos quadros do olhar. Note-se, a título de exemplo, como o poema que dá nome à primeira parte – A pura verdade -, subintitulado óleo sobre cimento, 534 x 261 cm, pode ser entendido como uma autêntica lição acerca da grandiloquência do trivial: «O motor do automóvel anda a trabalhar / num óleo no / seu lugar de garagem. Expressionista abstracto. / Sobre bagos de óleo escuro (de / mais uma noite em claro) dobro / os pneus do carro ao sair pela manhã apondo / ao seu Pollock gestos de um / Gracinda Candeias. Nessa tela abstracta / (que é o concreto do chão) os / olhos teimam em crer um archote um / fuzil / unindo as manchas mais cruas. Também assim / esta poesia» (p. 17). Uma arte poética a lembrar-nos Agnès Varda, no magnífico Os Respigadores e a Respigadora (2000), vendo telas de Antoni Tàpies nas manchas de humidade das paredes da sua casa. Luz Última, que o poeta dedica a seu pai falecido, não é mais um livro de lamentações marcadas pela perda. É, como bem notou Pedro Mexia, um livro sobre «a grande lição da morte». E essa lição é a lição do olhar, de passarmos a olhar as coisas de uma outra maneira, talvez mais simplificadora ou, como queria O’Neill, desinchada de importanticidade. Buscando em tudo estes «versos da vida doméstica» (p. 49). Mesmo que o tudo sejam cheiros a fuel, óleos de automóvel, moedas esquecidas sobre um cacifo, «um pneu descasado / um assento / meia matrícula» «no caule da torrente» (p. 43). Ser poeta é isto mesmo: estar atento às coisas do mundo, não nos deixarmos distrair. Já que a única lição que podemos esperar da morte (dos outros) se resume à constatação de quão doloroso pode ser sentirmos a perda dos gestos que nos escaparam.
Há Violinos na Tribo, publicado em edição de autor decorria o ano de 1989, foi o primeiro livro de João Luís Barreto Guimarães (3 de Junho de 1967). Seguiram-se dois livros, todos posteriormente reeditados (e rasurados) em conjunto sob o título 3 (Gótica, Maio de 2001), onde se propunha, entre outras coisas, uma (des)construção lúdica do soneto. Essa inclinação para o jogo, marcada nos primeiros livros por uma componente formal mais precisa, nunca se perdeu na poesia de João Luís Barreto Guimarães. Ainda assim, desde o excelente Lugares Comuns (2000) que têm sido operadas algumas transformações (plásticas) nesta poesia. Eu diria que o essencial permanece, embora assumindo soluções formais diversas. O essencial, neste caso, resulta daquilo que quotidianamente se vai arrancando ao mundo e se pode constituir sob a forma de poesia: «a poesia está nas coisas / (pão quente) / destapa-a» (p. 27). É esse trabalho de ver, o que consubstancia o labor poético. Não de ver para além do que está, mas de conseguir ver no que está algo mais do que aquilo que nos permite um olhar distraído. Neste sentido, esta é uma poesia de olhos bem abertos. É uma poesia que busca no comezinho a luz que a insensibilidade apaga, a mesma insensibilidade que lança sobre as coisas de todos os dias uma indiferente banalidade. Epígrafes de Luís Quintais - Diz o que vês. - e de Jorge Gomes Miranda - Vê. Atenta. Anota. -, logo a abrir, indicam-nos o caminho. Outros autores aparecem citados (O’Neill, Luiza Neto Jorge, Philip Larkin, António Nobre), evocados (William Carlos Williams, Al-Mu’ tamid), brindados (Pedro Mexia, Adilia Lopes, João Miguel Fernandes Jorge). Há ainda Pollock, Gracinda Candeias, Dvorák, Marc Tardue, numa confluência amena de vivências culturais com outras mais domésticas. Esse tom culto e, por vezes, desnecessariamente adornado é, talvez, o aspecto menos interessante destes poemas. Mas tudo se salva por uma ironia bem condimentada e por uma invejável habilidade formal, onde o biográfico serve de contorno aos quadros do olhar. Note-se, a título de exemplo, como o poema que dá nome à primeira parte – A pura verdade -, subintitulado óleo sobre cimento, 534 x 261 cm, pode ser entendido como uma autêntica lição acerca da grandiloquência do trivial: «O motor do automóvel anda a trabalhar / num óleo no / seu lugar de garagem. Expressionista abstracto. / Sobre bagos de óleo escuro (de / mais uma noite em claro) dobro / os pneus do carro ao sair pela manhã apondo / ao seu Pollock gestos de um / Gracinda Candeias. Nessa tela abstracta / (que é o concreto do chão) os / olhos teimam em crer um archote um / fuzil / unindo as manchas mais cruas. Também assim / esta poesia» (p. 17). Uma arte poética a lembrar-nos Agnès Varda, no magnífico Os Respigadores e a Respigadora (2000), vendo telas de Antoni Tàpies nas manchas de humidade das paredes da sua casa. Luz Última, que o poeta dedica a seu pai falecido, não é mais um livro de lamentações marcadas pela perda. É, como bem notou Pedro Mexia, um livro sobre «a grande lição da morte». E essa lição é a lição do olhar, de passarmos a olhar as coisas de uma outra maneira, talvez mais simplificadora ou, como queria O’Neill, desinchada de importanticidade. Buscando em tudo estes «versos da vida doméstica» (p. 49). Mesmo que o tudo sejam cheiros a fuel, óleos de automóvel, moedas esquecidas sobre um cacifo, «um pneu descasado / um assento / meia matrícula» «no caule da torrente» (p. 43). Ser poeta é isto mesmo: estar atento às coisas do mundo, não nos deixarmos distrair. Já que a única lição que podemos esperar da morte (dos outros) se resume à constatação de quão doloroso pode ser sentirmos a perda dos gestos que nos escaparam.sexta-feira, 2 de junho de 2006
LUZ ÚLTIMA
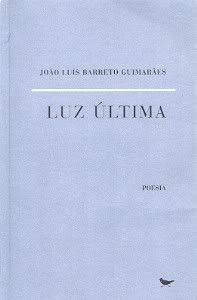 Há Violinos na Tribo, publicado em edição de autor decorria o ano de 1989, foi o primeiro livro de João Luís Barreto Guimarães (3 de Junho de 1967). Seguiram-se dois livros, todos posteriormente reeditados (e rasurados) em conjunto sob o título 3 (Gótica, Maio de 2001), onde se propunha, entre outras coisas, uma (des)construção lúdica do soneto. Essa inclinação para o jogo, marcada nos primeiros livros por uma componente formal mais precisa, nunca se perdeu na poesia de João Luís Barreto Guimarães. Ainda assim, desde o excelente Lugares Comuns (2000) que têm sido operadas algumas transformações (plásticas) nesta poesia. Eu diria que o essencial permanece, embora assumindo soluções formais diversas. O essencial, neste caso, resulta daquilo que quotidianamente se vai arrancando ao mundo e se pode constituir sob a forma de poesia: «a poesia está nas coisas / (pão quente) / destapa-a» (p. 27). É esse trabalho de ver, o que consubstancia o labor poético. Não de ver para além do que está, mas de conseguir ver no que está algo mais do que aquilo que nos permite um olhar distraído. Neste sentido, esta é uma poesia de olhos bem abertos. É uma poesia que busca no comezinho a luz que a insensibilidade apaga, a mesma insensibilidade que lança sobre as coisas de todos os dias uma indiferente banalidade. Epígrafes de Luís Quintais - Diz o que vês. - e de Jorge Gomes Miranda - Vê. Atenta. Anota. -, logo a abrir, indicam-nos o caminho. Outros autores aparecem citados (O’Neill, Luiza Neto Jorge, Philip Larkin, António Nobre), evocados (William Carlos Williams, Al-Mu’ tamid), brindados (Pedro Mexia, Adilia Lopes, João Miguel Fernandes Jorge). Há ainda Pollock, Gracinda Candeias, Dvorák, Marc Tardue, numa confluência amena de vivências culturais com outras mais domésticas. Esse tom culto e, por vezes, desnecessariamente adornado é, talvez, o aspecto menos interessante destes poemas. Mas tudo se salva por uma ironia bem condimentada e por uma invejável habilidade formal, onde o biográfico serve de contorno aos quadros do olhar. Note-se, a título de exemplo, como o poema que dá nome à primeira parte – A pura verdade -, subintitulado óleo sobre cimento, 534 x 261 cm, pode ser entendido como uma autêntica lição acerca da grandiloquência do trivial: «O motor do automóvel anda a trabalhar / num óleo no / seu lugar de garagem. Expressionista abstracto. / Sobre bagos de óleo escuro (de / mais uma noite em claro) dobro / os pneus do carro ao sair pela manhã apondo / ao seu Pollock gestos de um / Gracinda Candeias. Nessa tela abstracta / (que é o concreto do chão) os / olhos teimam em crer um archote um / fuzil / unindo as manchas mais cruas. Também assim / esta poesia» (p. 17). Uma arte poética a lembrar-nos Agnès Varda, no magnífico Os Respigadores e a Respigadora (2000), vendo telas de Antoni Tàpies nas manchas de humidade das paredes da sua casa. Luz Última, que o poeta dedica a seu pai falecido, não é mais um livro de lamentações marcadas pela perda. É, como bem notou Pedro Mexia, um livro sobre «a grande lição da morte». E essa lição é a lição do olhar, de passarmos a olhar as coisas de uma outra maneira, talvez mais simplificadora ou, como queria O’Neill, desinchada de importanticidade. Buscando em tudo estes «versos da vida doméstica» (p. 49). Mesmo que o tudo sejam cheiros a fuel, óleos de automóvel, moedas esquecidas sobre um cacifo, «um pneu descasado / um assento / meia matrícula» «no caule da torrente» (p. 43). Ser poeta é isto mesmo: estar atento às coisas do mundo, não nos deixarmos distrair. Já que a única lição que podemos esperar da morte (dos outros) se resume à constatação de quão doloroso pode ser sentirmos a perda dos gestos que nos escaparam.
Há Violinos na Tribo, publicado em edição de autor decorria o ano de 1989, foi o primeiro livro de João Luís Barreto Guimarães (3 de Junho de 1967). Seguiram-se dois livros, todos posteriormente reeditados (e rasurados) em conjunto sob o título 3 (Gótica, Maio de 2001), onde se propunha, entre outras coisas, uma (des)construção lúdica do soneto. Essa inclinação para o jogo, marcada nos primeiros livros por uma componente formal mais precisa, nunca se perdeu na poesia de João Luís Barreto Guimarães. Ainda assim, desde o excelente Lugares Comuns (2000) que têm sido operadas algumas transformações (plásticas) nesta poesia. Eu diria que o essencial permanece, embora assumindo soluções formais diversas. O essencial, neste caso, resulta daquilo que quotidianamente se vai arrancando ao mundo e se pode constituir sob a forma de poesia: «a poesia está nas coisas / (pão quente) / destapa-a» (p. 27). É esse trabalho de ver, o que consubstancia o labor poético. Não de ver para além do que está, mas de conseguir ver no que está algo mais do que aquilo que nos permite um olhar distraído. Neste sentido, esta é uma poesia de olhos bem abertos. É uma poesia que busca no comezinho a luz que a insensibilidade apaga, a mesma insensibilidade que lança sobre as coisas de todos os dias uma indiferente banalidade. Epígrafes de Luís Quintais - Diz o que vês. - e de Jorge Gomes Miranda - Vê. Atenta. Anota. -, logo a abrir, indicam-nos o caminho. Outros autores aparecem citados (O’Neill, Luiza Neto Jorge, Philip Larkin, António Nobre), evocados (William Carlos Williams, Al-Mu’ tamid), brindados (Pedro Mexia, Adilia Lopes, João Miguel Fernandes Jorge). Há ainda Pollock, Gracinda Candeias, Dvorák, Marc Tardue, numa confluência amena de vivências culturais com outras mais domésticas. Esse tom culto e, por vezes, desnecessariamente adornado é, talvez, o aspecto menos interessante destes poemas. Mas tudo se salva por uma ironia bem condimentada e por uma invejável habilidade formal, onde o biográfico serve de contorno aos quadros do olhar. Note-se, a título de exemplo, como o poema que dá nome à primeira parte – A pura verdade -, subintitulado óleo sobre cimento, 534 x 261 cm, pode ser entendido como uma autêntica lição acerca da grandiloquência do trivial: «O motor do automóvel anda a trabalhar / num óleo no / seu lugar de garagem. Expressionista abstracto. / Sobre bagos de óleo escuro (de / mais uma noite em claro) dobro / os pneus do carro ao sair pela manhã apondo / ao seu Pollock gestos de um / Gracinda Candeias. Nessa tela abstracta / (que é o concreto do chão) os / olhos teimam em crer um archote um / fuzil / unindo as manchas mais cruas. Também assim / esta poesia» (p. 17). Uma arte poética a lembrar-nos Agnès Varda, no magnífico Os Respigadores e a Respigadora (2000), vendo telas de Antoni Tàpies nas manchas de humidade das paredes da sua casa. Luz Última, que o poeta dedica a seu pai falecido, não é mais um livro de lamentações marcadas pela perda. É, como bem notou Pedro Mexia, um livro sobre «a grande lição da morte». E essa lição é a lição do olhar, de passarmos a olhar as coisas de uma outra maneira, talvez mais simplificadora ou, como queria O’Neill, desinchada de importanticidade. Buscando em tudo estes «versos da vida doméstica» (p. 49). Mesmo que o tudo sejam cheiros a fuel, óleos de automóvel, moedas esquecidas sobre um cacifo, «um pneu descasado / um assento / meia matrícula» «no caule da torrente» (p. 43). Ser poeta é isto mesmo: estar atento às coisas do mundo, não nos deixarmos distrair. Já que a única lição que podemos esperar da morte (dos outros) se resume à constatação de quão doloroso pode ser sentirmos a perda dos gestos que nos escaparam.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário