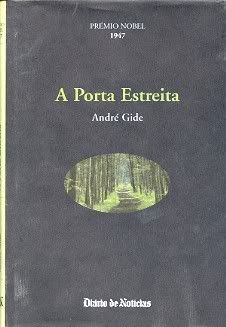 Há muito que andava para ler qualquer coisa de André Gide (n. 1869- m. 1951), Nobel da Literatura de 1947. A curiosidade sobre a sua obra fui buscá-la a um texto de Arthur Cravan (n. 1887 – m. 1918), incluido por Breton na Antologia do Humor Negro, dedicado ao fundador da Nouvelle Revue Française. Nesse texto, Cravan descreve do modo que a seguir se reproduz o venerável M. Gide: «não se parece com um filho do amor, nem com um elefante, nem com vários homens: parece-se com um artista; e quero fazer-lhe um simples cumprimento, aliás desagradável: a sua pluralidadezinha vem-lhe do facto de ele poder, à vontade, ser considerado um cabotino». Convém dizer que Cravan, sobrinho de Oscar Wilde, era uma espécie de «erva-do-diabo»: atraente na forma e nos efeitos, mas mortífera quando indevidamente (in)gerida. Pugilista de ofício e das letras, Cravan editou efemeramente uma pequena revista de nome Maintenant, negociada em regime ambulante, que viria a fazer as delícias dos dadaístas. Como sempre me atraíram os malvados e os alvos das suas malvadezas, aguardei oportunidade para me atirar à obra de André Gide (de resto, também ele incluído na antologia supracitada). Nascido em Paris, Gide foi autor de uma vasta obra que se desdobrou em vários domínios (da poesia ao romance, da novela ao ensaio, do teatro à literatura de viagens). Por preguiça, peguei no seu único livro que morava cá em casa, A Porta Estreita, numa edição há não muito tempo distribuída com o Diário de Notícias. Trata-se de uma novela publicada em 1909, onde são facilmente reconhecíveis múltiplos aspectos da vida do autor. Como Jerónimo, o narrador-personagem, Gide perdeu o pai aos 11 anos, foi criado pela mãe e por uma tia, enamorou-se por uma prima ainda em tenra idade. Desse enamoramento dá conta A Porta Estreita. A educação puritana de que foi alvo aparece bem traduzida no retrato traçado da sociedade do Havre e nos percursos das personagens (eles dedicam-se aos estudos, ao noivado e ao serviço militar; elas dedicam-se às crises, ao noivado e às crises). É o próprio autor quem fala da «disciplina puritana» à qual terão sido submetidos os impulsos do seu coração, inclinando-o para aquilo a que entendia chamar de virtude. Até aqui tudo parece auto-biográfico, mas sucede que enquanto Gide se casou com a prima, teve uma filha de uma outra relação e assumiu mais tarde a sua condição homossexual, Jerónimo viu-se enredado numa teia amorosa com termo trágico. Apaixonado pela prima Alissa, Jerónimo descobre que esta resiste ao seu amor por saber da paixão que sua irmã, Julieta, nutre pelo primo. A consciência beata de Alissa impele-a ao sacrifício em nome da irmã, deixando Jerónimo na agonia de um amor cuja distância era apenas interrompida pela troca de correspondência. A parte final da novela consiste precisamente na transcrição dessas cartas, culminando com as páginas do diário de Alissa onde se exalta o poder do Senhor na expiação dos pecados: «Como a alma deve ser feliz para que a virtude se confunda com o amor! Às vezes, duvido de que exista outra virtude além da virtude de amar, de amar o mais possível e cada vez mais… Mas, outras vezes, Santo Deus! A virtude afigura-se-me como uma resistência ao amor! Mas, ousarei chamar virtude à mais natural tendência do meu coração! Oh, atraente sofisma! Oh, atracção capciosa! Capciosa! Miragem maligna da felicidade!» (p. 109) Convertido ao comunismo em 1930, Gide nunca negou esforços na busca do sagrado. Nesta novela essa busca está patente nas crises morais das personagens, sobretudo em Alissa - que prefere a santidade à felicidade. Ainda que bastante crítico, o catolicismo pode também aqui ser entendido como um entrave do coração quando parta do princípio, porventura falso ou estupidamente puritano, de que à virtude se opõe o amor, de que à santidade se opõe a felicidade. Em última análise, esta curta novela pode ser lida como uma espécie de acusação do puritanismo matricial na vida de Gide. Eu é que, confesso, não tenho muita pachorra para as crises existenciais dos bem nascidos.
Há muito que andava para ler qualquer coisa de André Gide (n. 1869- m. 1951), Nobel da Literatura de 1947. A curiosidade sobre a sua obra fui buscá-la a um texto de Arthur Cravan (n. 1887 – m. 1918), incluido por Breton na Antologia do Humor Negro, dedicado ao fundador da Nouvelle Revue Française. Nesse texto, Cravan descreve do modo que a seguir se reproduz o venerável M. Gide: «não se parece com um filho do amor, nem com um elefante, nem com vários homens: parece-se com um artista; e quero fazer-lhe um simples cumprimento, aliás desagradável: a sua pluralidadezinha vem-lhe do facto de ele poder, à vontade, ser considerado um cabotino». Convém dizer que Cravan, sobrinho de Oscar Wilde, era uma espécie de «erva-do-diabo»: atraente na forma e nos efeitos, mas mortífera quando indevidamente (in)gerida. Pugilista de ofício e das letras, Cravan editou efemeramente uma pequena revista de nome Maintenant, negociada em regime ambulante, que viria a fazer as delícias dos dadaístas. Como sempre me atraíram os malvados e os alvos das suas malvadezas, aguardei oportunidade para me atirar à obra de André Gide (de resto, também ele incluído na antologia supracitada). Nascido em Paris, Gide foi autor de uma vasta obra que se desdobrou em vários domínios (da poesia ao romance, da novela ao ensaio, do teatro à literatura de viagens). Por preguiça, peguei no seu único livro que morava cá em casa, A Porta Estreita, numa edição há não muito tempo distribuída com o Diário de Notícias. Trata-se de uma novela publicada em 1909, onde são facilmente reconhecíveis múltiplos aspectos da vida do autor. Como Jerónimo, o narrador-personagem, Gide perdeu o pai aos 11 anos, foi criado pela mãe e por uma tia, enamorou-se por uma prima ainda em tenra idade. Desse enamoramento dá conta A Porta Estreita. A educação puritana de que foi alvo aparece bem traduzida no retrato traçado da sociedade do Havre e nos percursos das personagens (eles dedicam-se aos estudos, ao noivado e ao serviço militar; elas dedicam-se às crises, ao noivado e às crises). É o próprio autor quem fala da «disciplina puritana» à qual terão sido submetidos os impulsos do seu coração, inclinando-o para aquilo a que entendia chamar de virtude. Até aqui tudo parece auto-biográfico, mas sucede que enquanto Gide se casou com a prima, teve uma filha de uma outra relação e assumiu mais tarde a sua condição homossexual, Jerónimo viu-se enredado numa teia amorosa com termo trágico. Apaixonado pela prima Alissa, Jerónimo descobre que esta resiste ao seu amor por saber da paixão que sua irmã, Julieta, nutre pelo primo. A consciência beata de Alissa impele-a ao sacrifício em nome da irmã, deixando Jerónimo na agonia de um amor cuja distância era apenas interrompida pela troca de correspondência. A parte final da novela consiste precisamente na transcrição dessas cartas, culminando com as páginas do diário de Alissa onde se exalta o poder do Senhor na expiação dos pecados: «Como a alma deve ser feliz para que a virtude se confunda com o amor! Às vezes, duvido de que exista outra virtude além da virtude de amar, de amar o mais possível e cada vez mais… Mas, outras vezes, Santo Deus! A virtude afigura-se-me como uma resistência ao amor! Mas, ousarei chamar virtude à mais natural tendência do meu coração! Oh, atraente sofisma! Oh, atracção capciosa! Capciosa! Miragem maligna da felicidade!» (p. 109) Convertido ao comunismo em 1930, Gide nunca negou esforços na busca do sagrado. Nesta novela essa busca está patente nas crises morais das personagens, sobretudo em Alissa - que prefere a santidade à felicidade. Ainda que bastante crítico, o catolicismo pode também aqui ser entendido como um entrave do coração quando parta do princípio, porventura falso ou estupidamente puritano, de que à virtude se opõe o amor, de que à santidade se opõe a felicidade. Em última análise, esta curta novela pode ser lida como uma espécie de acusação do puritanismo matricial na vida de Gide. Eu é que, confesso, não tenho muita pachorra para as crises existenciais dos bem nascidos.sexta-feira, 18 de agosto de 2006
A PORTA ESTREITA
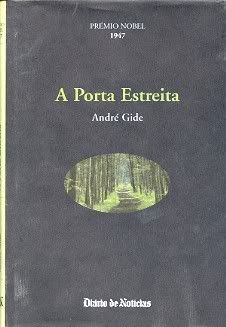 Há muito que andava para ler qualquer coisa de André Gide (n. 1869- m. 1951), Nobel da Literatura de 1947. A curiosidade sobre a sua obra fui buscá-la a um texto de Arthur Cravan (n. 1887 – m. 1918), incluido por Breton na Antologia do Humor Negro, dedicado ao fundador da Nouvelle Revue Française. Nesse texto, Cravan descreve do modo que a seguir se reproduz o venerável M. Gide: «não se parece com um filho do amor, nem com um elefante, nem com vários homens: parece-se com um artista; e quero fazer-lhe um simples cumprimento, aliás desagradável: a sua pluralidadezinha vem-lhe do facto de ele poder, à vontade, ser considerado um cabotino». Convém dizer que Cravan, sobrinho de Oscar Wilde, era uma espécie de «erva-do-diabo»: atraente na forma e nos efeitos, mas mortífera quando indevidamente (in)gerida. Pugilista de ofício e das letras, Cravan editou efemeramente uma pequena revista de nome Maintenant, negociada em regime ambulante, que viria a fazer as delícias dos dadaístas. Como sempre me atraíram os malvados e os alvos das suas malvadezas, aguardei oportunidade para me atirar à obra de André Gide (de resto, também ele incluído na antologia supracitada). Nascido em Paris, Gide foi autor de uma vasta obra que se desdobrou em vários domínios (da poesia ao romance, da novela ao ensaio, do teatro à literatura de viagens). Por preguiça, peguei no seu único livro que morava cá em casa, A Porta Estreita, numa edição há não muito tempo distribuída com o Diário de Notícias. Trata-se de uma novela publicada em 1909, onde são facilmente reconhecíveis múltiplos aspectos da vida do autor. Como Jerónimo, o narrador-personagem, Gide perdeu o pai aos 11 anos, foi criado pela mãe e por uma tia, enamorou-se por uma prima ainda em tenra idade. Desse enamoramento dá conta A Porta Estreita. A educação puritana de que foi alvo aparece bem traduzida no retrato traçado da sociedade do Havre e nos percursos das personagens (eles dedicam-se aos estudos, ao noivado e ao serviço militar; elas dedicam-se às crises, ao noivado e às crises). É o próprio autor quem fala da «disciplina puritana» à qual terão sido submetidos os impulsos do seu coração, inclinando-o para aquilo a que entendia chamar de virtude. Até aqui tudo parece auto-biográfico, mas sucede que enquanto Gide se casou com a prima, teve uma filha de uma outra relação e assumiu mais tarde a sua condição homossexual, Jerónimo viu-se enredado numa teia amorosa com termo trágico. Apaixonado pela prima Alissa, Jerónimo descobre que esta resiste ao seu amor por saber da paixão que sua irmã, Julieta, nutre pelo primo. A consciência beata de Alissa impele-a ao sacrifício em nome da irmã, deixando Jerónimo na agonia de um amor cuja distância era apenas interrompida pela troca de correspondência. A parte final da novela consiste precisamente na transcrição dessas cartas, culminando com as páginas do diário de Alissa onde se exalta o poder do Senhor na expiação dos pecados: «Como a alma deve ser feliz para que a virtude se confunda com o amor! Às vezes, duvido de que exista outra virtude além da virtude de amar, de amar o mais possível e cada vez mais… Mas, outras vezes, Santo Deus! A virtude afigura-se-me como uma resistência ao amor! Mas, ousarei chamar virtude à mais natural tendência do meu coração! Oh, atraente sofisma! Oh, atracção capciosa! Capciosa! Miragem maligna da felicidade!» (p. 109) Convertido ao comunismo em 1930, Gide nunca negou esforços na busca do sagrado. Nesta novela essa busca está patente nas crises morais das personagens, sobretudo em Alissa - que prefere a santidade à felicidade. Ainda que bastante crítico, o catolicismo pode também aqui ser entendido como um entrave do coração quando parta do princípio, porventura falso ou estupidamente puritano, de que à virtude se opõe o amor, de que à santidade se opõe a felicidade. Em última análise, esta curta novela pode ser lida como uma espécie de acusação do puritanismo matricial na vida de Gide. Eu é que, confesso, não tenho muita pachorra para as crises existenciais dos bem nascidos.
Há muito que andava para ler qualquer coisa de André Gide (n. 1869- m. 1951), Nobel da Literatura de 1947. A curiosidade sobre a sua obra fui buscá-la a um texto de Arthur Cravan (n. 1887 – m. 1918), incluido por Breton na Antologia do Humor Negro, dedicado ao fundador da Nouvelle Revue Française. Nesse texto, Cravan descreve do modo que a seguir se reproduz o venerável M. Gide: «não se parece com um filho do amor, nem com um elefante, nem com vários homens: parece-se com um artista; e quero fazer-lhe um simples cumprimento, aliás desagradável: a sua pluralidadezinha vem-lhe do facto de ele poder, à vontade, ser considerado um cabotino». Convém dizer que Cravan, sobrinho de Oscar Wilde, era uma espécie de «erva-do-diabo»: atraente na forma e nos efeitos, mas mortífera quando indevidamente (in)gerida. Pugilista de ofício e das letras, Cravan editou efemeramente uma pequena revista de nome Maintenant, negociada em regime ambulante, que viria a fazer as delícias dos dadaístas. Como sempre me atraíram os malvados e os alvos das suas malvadezas, aguardei oportunidade para me atirar à obra de André Gide (de resto, também ele incluído na antologia supracitada). Nascido em Paris, Gide foi autor de uma vasta obra que se desdobrou em vários domínios (da poesia ao romance, da novela ao ensaio, do teatro à literatura de viagens). Por preguiça, peguei no seu único livro que morava cá em casa, A Porta Estreita, numa edição há não muito tempo distribuída com o Diário de Notícias. Trata-se de uma novela publicada em 1909, onde são facilmente reconhecíveis múltiplos aspectos da vida do autor. Como Jerónimo, o narrador-personagem, Gide perdeu o pai aos 11 anos, foi criado pela mãe e por uma tia, enamorou-se por uma prima ainda em tenra idade. Desse enamoramento dá conta A Porta Estreita. A educação puritana de que foi alvo aparece bem traduzida no retrato traçado da sociedade do Havre e nos percursos das personagens (eles dedicam-se aos estudos, ao noivado e ao serviço militar; elas dedicam-se às crises, ao noivado e às crises). É o próprio autor quem fala da «disciplina puritana» à qual terão sido submetidos os impulsos do seu coração, inclinando-o para aquilo a que entendia chamar de virtude. Até aqui tudo parece auto-biográfico, mas sucede que enquanto Gide se casou com a prima, teve uma filha de uma outra relação e assumiu mais tarde a sua condição homossexual, Jerónimo viu-se enredado numa teia amorosa com termo trágico. Apaixonado pela prima Alissa, Jerónimo descobre que esta resiste ao seu amor por saber da paixão que sua irmã, Julieta, nutre pelo primo. A consciência beata de Alissa impele-a ao sacrifício em nome da irmã, deixando Jerónimo na agonia de um amor cuja distância era apenas interrompida pela troca de correspondência. A parte final da novela consiste precisamente na transcrição dessas cartas, culminando com as páginas do diário de Alissa onde se exalta o poder do Senhor na expiação dos pecados: «Como a alma deve ser feliz para que a virtude se confunda com o amor! Às vezes, duvido de que exista outra virtude além da virtude de amar, de amar o mais possível e cada vez mais… Mas, outras vezes, Santo Deus! A virtude afigura-se-me como uma resistência ao amor! Mas, ousarei chamar virtude à mais natural tendência do meu coração! Oh, atraente sofisma! Oh, atracção capciosa! Capciosa! Miragem maligna da felicidade!» (p. 109) Convertido ao comunismo em 1930, Gide nunca negou esforços na busca do sagrado. Nesta novela essa busca está patente nas crises morais das personagens, sobretudo em Alissa - que prefere a santidade à felicidade. Ainda que bastante crítico, o catolicismo pode também aqui ser entendido como um entrave do coração quando parta do princípio, porventura falso ou estupidamente puritano, de que à virtude se opõe o amor, de que à santidade se opõe a felicidade. Em última análise, esta curta novela pode ser lida como uma espécie de acusação do puritanismo matricial na vida de Gide. Eu é que, confesso, não tenho muita pachorra para as crises existenciais dos bem nascidos.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário