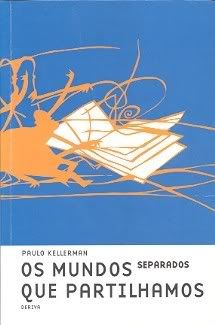 Vivemos num tempo estranho, um tempo de arrastadas saturações, um tempo sem respostas para perguntas outrora respondidas. Depois da morte de Deus, também o homem parece estar a morrer, muito lentamente, no colo das suas dúvidas eternas. O que havia de esperançoso na religião e, posteriormente, na ciência, deu azo a uma espécie de desertificação das ideias, dos ideais, dos dogmas, tornando-nos joguetes nas mãos do tempo. E o pior é que já nem em si próprio o homem ousa acreditar, tantos são os paradoxos por si gerados, tanta é a angústia promovida pela inexorabilidade desses mesmos paradoxos. Fala-se do fim da história e de pós-humanidade, relativiza-se a verdade ao mesmo tempo que se tropeça na objectivação dessa mesma relatividade, promovem-se valores adquiridos como se fossem fachos de luz ameaçados por ditaduras sub-reptícias, sejam elas a do consumo ou a da opinião, a do corpo ou a de uma democracia sem alternativas. Vivemos nesse tempo estranho de ir vivendo, de ir aguardando o fim, sem grandes programas, planos ou projectos que não sejam os de ir vivendo apenas, entre o comando da televisão e o volante do automóvel. A concentração da vida nas metrópoles desafia a humanidade nos limites da sua própria sobrevivência. O efeito é o de uma espécie de nova humanidade, mecanizada em função das dinâmicas do consumo. Utilizando a linguagem de Paulo Kellerman, direi que «limitamo-nos a esperar que o tempo vá passando, procuramos desesperadamente distracções» (p. 9), «os dias passam, iguais; e a nossa partilha silenciosa torna-se uma rotina» (p. 12), «conversamos freneticamente, com medo que o tempo passe, sem notarmos a sua passagem» (p. 22). O que disto resulta é uma constante monotonia, uma rotina, a impressão de que «viver é, apenas, repetir» (p. 31), um tédio sem saída, um tempo que se limita a passar sem nada trazer, um tempo vagaroso, enfadonho, sem qualquer entusiasmo, com «os gestos rotineiros» (p. 44), uma «doentia passividade» (p. 45) que tudo torna precário, inclusive os afectos. À literatura, como sabemos, não cabe tanto dar respostas como pintar retratos, ela é apenas um depositário de memórias, observações e experiências que esperamos possa servir de testemunho a quem se interesse, num futuro mais ou menos distante, pelo presente, pelo agora. E é esse agora que Paulo Kellerman retrata na sua mais recente colectânea de contos, intitulada Os Mundos Separados que Partilhamos, publicada em Fevereiro passado pela Deriva. Depois de Gastar Palavras, com o qual venceu o Prémio de Conto Camilo Castelo Branco 2005, Kellerman regressa com um conjunto de estórias escritas a partir da observação de quadros de Munch, Degas, Chagall, Eric Fischl, entre outros. Estes diálogos, apenas implícitos, não são tão evidentes quanto é a vontade de, quase sempre em pouco mais que três páginas, condensar um mal du siècle actualizado, partindo de perspectivações que mostram, de forma directa e limpa, as relações humanas na contemporaneidade. O narrador, que alterna entre o feminino e o masculino, mais do que contar uma estória, narra situações, momentos, reflexões contaminadas pelas sensações e pelas emoções mais íntimas. Daí que o tom seja intimista, por vezes repetitivo, como na música minimal repetitiva, sombreado pela melancolia, pelo tédio, pela solidão, pela frugalidade, pela rotina, pela monotonia. A dada altura, estes textos correm o risco de também eles resvalarem numa certa rotina, quebrada aqui e acolá por remates mais inesperados ou estruturas pouco usuais – como a de dividir as estórias em dois lados, à maneira de um velho disco de vinil. Num dos contos, um neto recorda a avó durante o seu funeral. Termina assim: «Não sei para que estou a escrever tudo isto. A minha avó não sabia ler» (p. 72). A mais recente proposta literária de Paulo Kellerman é feita destas hesitações, de dúvidas adensadas pelo cansaço que a monotonia da vida imprime a cada momento, é uma literatura sem riso, perdida nas ressonadas das personagens, é como um suspiro diante do vazio e da indiferença que contorna o olhar que o autor tem da actualidade. Importa porém lembrar que sendo um tédio, uma monotonia, uma repetição, a rotina da vida é ainda a única que temos como alternativa ao tédio, à monotonia e à repetição que a morte há-de ser. Se a literatura não consegue transcender essa condenação, outros meios haverá que a tornem menos lenta.
Vivemos num tempo estranho, um tempo de arrastadas saturações, um tempo sem respostas para perguntas outrora respondidas. Depois da morte de Deus, também o homem parece estar a morrer, muito lentamente, no colo das suas dúvidas eternas. O que havia de esperançoso na religião e, posteriormente, na ciência, deu azo a uma espécie de desertificação das ideias, dos ideais, dos dogmas, tornando-nos joguetes nas mãos do tempo. E o pior é que já nem em si próprio o homem ousa acreditar, tantos são os paradoxos por si gerados, tanta é a angústia promovida pela inexorabilidade desses mesmos paradoxos. Fala-se do fim da história e de pós-humanidade, relativiza-se a verdade ao mesmo tempo que se tropeça na objectivação dessa mesma relatividade, promovem-se valores adquiridos como se fossem fachos de luz ameaçados por ditaduras sub-reptícias, sejam elas a do consumo ou a da opinião, a do corpo ou a de uma democracia sem alternativas. Vivemos nesse tempo estranho de ir vivendo, de ir aguardando o fim, sem grandes programas, planos ou projectos que não sejam os de ir vivendo apenas, entre o comando da televisão e o volante do automóvel. A concentração da vida nas metrópoles desafia a humanidade nos limites da sua própria sobrevivência. O efeito é o de uma espécie de nova humanidade, mecanizada em função das dinâmicas do consumo. Utilizando a linguagem de Paulo Kellerman, direi que «limitamo-nos a esperar que o tempo vá passando, procuramos desesperadamente distracções» (p. 9), «os dias passam, iguais; e a nossa partilha silenciosa torna-se uma rotina» (p. 12), «conversamos freneticamente, com medo que o tempo passe, sem notarmos a sua passagem» (p. 22). O que disto resulta é uma constante monotonia, uma rotina, a impressão de que «viver é, apenas, repetir» (p. 31), um tédio sem saída, um tempo que se limita a passar sem nada trazer, um tempo vagaroso, enfadonho, sem qualquer entusiasmo, com «os gestos rotineiros» (p. 44), uma «doentia passividade» (p. 45) que tudo torna precário, inclusive os afectos. À literatura, como sabemos, não cabe tanto dar respostas como pintar retratos, ela é apenas um depositário de memórias, observações e experiências que esperamos possa servir de testemunho a quem se interesse, num futuro mais ou menos distante, pelo presente, pelo agora. E é esse agora que Paulo Kellerman retrata na sua mais recente colectânea de contos, intitulada Os Mundos Separados que Partilhamos, publicada em Fevereiro passado pela Deriva. Depois de Gastar Palavras, com o qual venceu o Prémio de Conto Camilo Castelo Branco 2005, Kellerman regressa com um conjunto de estórias escritas a partir da observação de quadros de Munch, Degas, Chagall, Eric Fischl, entre outros. Estes diálogos, apenas implícitos, não são tão evidentes quanto é a vontade de, quase sempre em pouco mais que três páginas, condensar um mal du siècle actualizado, partindo de perspectivações que mostram, de forma directa e limpa, as relações humanas na contemporaneidade. O narrador, que alterna entre o feminino e o masculino, mais do que contar uma estória, narra situações, momentos, reflexões contaminadas pelas sensações e pelas emoções mais íntimas. Daí que o tom seja intimista, por vezes repetitivo, como na música minimal repetitiva, sombreado pela melancolia, pelo tédio, pela solidão, pela frugalidade, pela rotina, pela monotonia. A dada altura, estes textos correm o risco de também eles resvalarem numa certa rotina, quebrada aqui e acolá por remates mais inesperados ou estruturas pouco usuais – como a de dividir as estórias em dois lados, à maneira de um velho disco de vinil. Num dos contos, um neto recorda a avó durante o seu funeral. Termina assim: «Não sei para que estou a escrever tudo isto. A minha avó não sabia ler» (p. 72). A mais recente proposta literária de Paulo Kellerman é feita destas hesitações, de dúvidas adensadas pelo cansaço que a monotonia da vida imprime a cada momento, é uma literatura sem riso, perdida nas ressonadas das personagens, é como um suspiro diante do vazio e da indiferença que contorna o olhar que o autor tem da actualidade. Importa porém lembrar que sendo um tédio, uma monotonia, uma repetição, a rotina da vida é ainda a única que temos como alternativa ao tédio, à monotonia e à repetição que a morte há-de ser. Se a literatura não consegue transcender essa condenação, outros meios haverá que a tornem menos lenta.sábado, 12 de maio de 2007
OS MUNDOS SEPARADOS QUE PARTILHAMOS
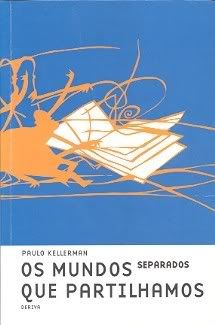 Vivemos num tempo estranho, um tempo de arrastadas saturações, um tempo sem respostas para perguntas outrora respondidas. Depois da morte de Deus, também o homem parece estar a morrer, muito lentamente, no colo das suas dúvidas eternas. O que havia de esperançoso na religião e, posteriormente, na ciência, deu azo a uma espécie de desertificação das ideias, dos ideais, dos dogmas, tornando-nos joguetes nas mãos do tempo. E o pior é que já nem em si próprio o homem ousa acreditar, tantos são os paradoxos por si gerados, tanta é a angústia promovida pela inexorabilidade desses mesmos paradoxos. Fala-se do fim da história e de pós-humanidade, relativiza-se a verdade ao mesmo tempo que se tropeça na objectivação dessa mesma relatividade, promovem-se valores adquiridos como se fossem fachos de luz ameaçados por ditaduras sub-reptícias, sejam elas a do consumo ou a da opinião, a do corpo ou a de uma democracia sem alternativas. Vivemos nesse tempo estranho de ir vivendo, de ir aguardando o fim, sem grandes programas, planos ou projectos que não sejam os de ir vivendo apenas, entre o comando da televisão e o volante do automóvel. A concentração da vida nas metrópoles desafia a humanidade nos limites da sua própria sobrevivência. O efeito é o de uma espécie de nova humanidade, mecanizada em função das dinâmicas do consumo. Utilizando a linguagem de Paulo Kellerman, direi que «limitamo-nos a esperar que o tempo vá passando, procuramos desesperadamente distracções» (p. 9), «os dias passam, iguais; e a nossa partilha silenciosa torna-se uma rotina» (p. 12), «conversamos freneticamente, com medo que o tempo passe, sem notarmos a sua passagem» (p. 22). O que disto resulta é uma constante monotonia, uma rotina, a impressão de que «viver é, apenas, repetir» (p. 31), um tédio sem saída, um tempo que se limita a passar sem nada trazer, um tempo vagaroso, enfadonho, sem qualquer entusiasmo, com «os gestos rotineiros» (p. 44), uma «doentia passividade» (p. 45) que tudo torna precário, inclusive os afectos. À literatura, como sabemos, não cabe tanto dar respostas como pintar retratos, ela é apenas um depositário de memórias, observações e experiências que esperamos possa servir de testemunho a quem se interesse, num futuro mais ou menos distante, pelo presente, pelo agora. E é esse agora que Paulo Kellerman retrata na sua mais recente colectânea de contos, intitulada Os Mundos Separados que Partilhamos, publicada em Fevereiro passado pela Deriva. Depois de Gastar Palavras, com o qual venceu o Prémio de Conto Camilo Castelo Branco 2005, Kellerman regressa com um conjunto de estórias escritas a partir da observação de quadros de Munch, Degas, Chagall, Eric Fischl, entre outros. Estes diálogos, apenas implícitos, não são tão evidentes quanto é a vontade de, quase sempre em pouco mais que três páginas, condensar um mal du siècle actualizado, partindo de perspectivações que mostram, de forma directa e limpa, as relações humanas na contemporaneidade. O narrador, que alterna entre o feminino e o masculino, mais do que contar uma estória, narra situações, momentos, reflexões contaminadas pelas sensações e pelas emoções mais íntimas. Daí que o tom seja intimista, por vezes repetitivo, como na música minimal repetitiva, sombreado pela melancolia, pelo tédio, pela solidão, pela frugalidade, pela rotina, pela monotonia. A dada altura, estes textos correm o risco de também eles resvalarem numa certa rotina, quebrada aqui e acolá por remates mais inesperados ou estruturas pouco usuais – como a de dividir as estórias em dois lados, à maneira de um velho disco de vinil. Num dos contos, um neto recorda a avó durante o seu funeral. Termina assim: «Não sei para que estou a escrever tudo isto. A minha avó não sabia ler» (p. 72). A mais recente proposta literária de Paulo Kellerman é feita destas hesitações, de dúvidas adensadas pelo cansaço que a monotonia da vida imprime a cada momento, é uma literatura sem riso, perdida nas ressonadas das personagens, é como um suspiro diante do vazio e da indiferença que contorna o olhar que o autor tem da actualidade. Importa porém lembrar que sendo um tédio, uma monotonia, uma repetição, a rotina da vida é ainda a única que temos como alternativa ao tédio, à monotonia e à repetição que a morte há-de ser. Se a literatura não consegue transcender essa condenação, outros meios haverá que a tornem menos lenta.
Vivemos num tempo estranho, um tempo de arrastadas saturações, um tempo sem respostas para perguntas outrora respondidas. Depois da morte de Deus, também o homem parece estar a morrer, muito lentamente, no colo das suas dúvidas eternas. O que havia de esperançoso na religião e, posteriormente, na ciência, deu azo a uma espécie de desertificação das ideias, dos ideais, dos dogmas, tornando-nos joguetes nas mãos do tempo. E o pior é que já nem em si próprio o homem ousa acreditar, tantos são os paradoxos por si gerados, tanta é a angústia promovida pela inexorabilidade desses mesmos paradoxos. Fala-se do fim da história e de pós-humanidade, relativiza-se a verdade ao mesmo tempo que se tropeça na objectivação dessa mesma relatividade, promovem-se valores adquiridos como se fossem fachos de luz ameaçados por ditaduras sub-reptícias, sejam elas a do consumo ou a da opinião, a do corpo ou a de uma democracia sem alternativas. Vivemos nesse tempo estranho de ir vivendo, de ir aguardando o fim, sem grandes programas, planos ou projectos que não sejam os de ir vivendo apenas, entre o comando da televisão e o volante do automóvel. A concentração da vida nas metrópoles desafia a humanidade nos limites da sua própria sobrevivência. O efeito é o de uma espécie de nova humanidade, mecanizada em função das dinâmicas do consumo. Utilizando a linguagem de Paulo Kellerman, direi que «limitamo-nos a esperar que o tempo vá passando, procuramos desesperadamente distracções» (p. 9), «os dias passam, iguais; e a nossa partilha silenciosa torna-se uma rotina» (p. 12), «conversamos freneticamente, com medo que o tempo passe, sem notarmos a sua passagem» (p. 22). O que disto resulta é uma constante monotonia, uma rotina, a impressão de que «viver é, apenas, repetir» (p. 31), um tédio sem saída, um tempo que se limita a passar sem nada trazer, um tempo vagaroso, enfadonho, sem qualquer entusiasmo, com «os gestos rotineiros» (p. 44), uma «doentia passividade» (p. 45) que tudo torna precário, inclusive os afectos. À literatura, como sabemos, não cabe tanto dar respostas como pintar retratos, ela é apenas um depositário de memórias, observações e experiências que esperamos possa servir de testemunho a quem se interesse, num futuro mais ou menos distante, pelo presente, pelo agora. E é esse agora que Paulo Kellerman retrata na sua mais recente colectânea de contos, intitulada Os Mundos Separados que Partilhamos, publicada em Fevereiro passado pela Deriva. Depois de Gastar Palavras, com o qual venceu o Prémio de Conto Camilo Castelo Branco 2005, Kellerman regressa com um conjunto de estórias escritas a partir da observação de quadros de Munch, Degas, Chagall, Eric Fischl, entre outros. Estes diálogos, apenas implícitos, não são tão evidentes quanto é a vontade de, quase sempre em pouco mais que três páginas, condensar um mal du siècle actualizado, partindo de perspectivações que mostram, de forma directa e limpa, as relações humanas na contemporaneidade. O narrador, que alterna entre o feminino e o masculino, mais do que contar uma estória, narra situações, momentos, reflexões contaminadas pelas sensações e pelas emoções mais íntimas. Daí que o tom seja intimista, por vezes repetitivo, como na música minimal repetitiva, sombreado pela melancolia, pelo tédio, pela solidão, pela frugalidade, pela rotina, pela monotonia. A dada altura, estes textos correm o risco de também eles resvalarem numa certa rotina, quebrada aqui e acolá por remates mais inesperados ou estruturas pouco usuais – como a de dividir as estórias em dois lados, à maneira de um velho disco de vinil. Num dos contos, um neto recorda a avó durante o seu funeral. Termina assim: «Não sei para que estou a escrever tudo isto. A minha avó não sabia ler» (p. 72). A mais recente proposta literária de Paulo Kellerman é feita destas hesitações, de dúvidas adensadas pelo cansaço que a monotonia da vida imprime a cada momento, é uma literatura sem riso, perdida nas ressonadas das personagens, é como um suspiro diante do vazio e da indiferença que contorna o olhar que o autor tem da actualidade. Importa porém lembrar que sendo um tédio, uma monotonia, uma repetição, a rotina da vida é ainda a única que temos como alternativa ao tédio, à monotonia e à repetição que a morte há-de ser. Se a literatura não consegue transcender essa condenação, outros meios haverá que a tornem menos lenta.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário