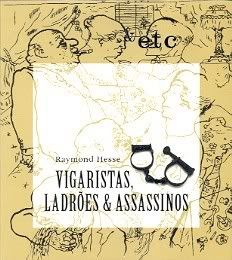 Há dias discutia com um amigo a possibilidade da liberalização das drogas. Esse meu amigo, acérrimo defensor da liberalização das drogas tout court, não aceitava, ou não entendia, o meu argumento segundo o qual uma situação dessas, a verificar-se, tornar-se-ia, a breve trecho, absolutamente insustentável. O problema, dizia eu, não está tanto na liberalização das drogas – quais drogas? - como está no uso que delas se faça. Portanto, a questão não pode ser interpretada apenas a partir da perspectiva de quem consome, mas deve também ser alvo de análise a partir da perspectiva de quem a produz e vende. Quero com isto dizer que anterior ao acto de consumir uma droga é o de a produzir e de a comercializar, sendo que a forma como uma droga por vezes me chega não tem nada que ver com a forma como eu gostaria de chegar a ela – fosse esse o caso. O negócio está montado tal como está precisamente para que não seja posto um fim ao negócio. O que está em causa no proibicionismo nunca é tanto o poder consumir como é o poder produzir. Mudar esta correlação de interesses poderia ser o fim do negócio, o que, bem vistas as coisas, seria péssimo para o consumidor. Se considerarem cínico ou capcioso este meu raciocínio, aventurem-se na leitura de Raymond Hesse, magistrado francês, nascido em Saint-Etienne no ano de 1884 e desaprecido em 1967. Bibliófilo e escritor nas horas vagas, foi autor de obras de pendor humorístico, vindas a lume em luxuosas edições, como Jules, Totor et Gustave (1914), Riquet à la Houppe et ses compagnons (1923) – com prefácio de Anatole France - e este Vauriens, Voleurs, Assassins, escrito em 1925 e publicado inicialmente na revista Les Oeuvres Nouvelles, segundo informação contida numa nota de badana na actual edição da &etc. Grandes desenhistas da época ilustraram-lhe os textos, caracterizados pela veia satírica e por um especial talento para a fabulação de cenários demonstrativos da fragilidade dos preceitos morais das sociedades burguesas. A forma como R. Hesse desmonta, em Vigaristas, Ladrões & Assassinos, as bases ético-morais das chamadas sociedades de direito, nomeadamente o estatuto conferido às instituições que nos governam, convence pela extrema simplicidade do argumento. Formulemo-lo em tom de suposição: e se, de repente, deixasse de haver crime no mundo? É isso que se sugere nesta pequena novela, dividida em X capítulos, que tem por mote uma greve geral levada a cabo pelo Sindicato dos V.L.A. (Vigaristas, Ladrões & Assassinos). Privada de vícios, a sociedade não só se afunda num tédio e numa tristeza insuportáveis como toda a sua estrutura começa a desmoronar-se pela absoluta perda de sentido. Os jornalistas, aborrecidos, ficam sem notícias para dar, o que trará consequências drásticas nas tiragens dos jornais; os juízes, desocupados, passam o tempo a fumar; os inspectores dedicam-se à manufactura de pombinhas de papel; o abade deixa de ter assunto para os seus sermões, ficando a própria religião num vazio tal que ninguém dela sente mais necessidade; as companhias de seguro abrem falência; os cidadãos ficam sem assunto que lhes permita desviar a atenção dos seus próprios «falhanços, erros e falcatruas». Disto tudo, só uma coisa se pode concluir: «O papel social do criminoso é enorme: papel moral porque serve de padrão à virtude, papel económico porque sustenta e faz viver metade do mundo, papel pitoresco porque suscitou sempre um interesse apaixonado. Se o criminoso não existisse, era preciso inventá-lo, pois ele é um dos benfeitores da humanidade sofredora» (pp. 27-28). Entretanto, ao mesmo tempo que na Sorbonne são reconhecidas as virtudes dos criminosos, é o próprio chefe do Sindicato dos V.L.A. que acaba a constatar como é fácil a vida para as pessoas honestas, tão ocupadas a verter lágrimas de crocodilo «sobre a imoralidade e o crime» quando, afinal, é este que as sustenta. Acerca da conclusão desta história, nada direi. Melhor será que a leiam e daí extraiam as vossas conclusões, sejam vosselências pessoas íntegras e de virtude ou trapaceiros da pior estirpe.
Há dias discutia com um amigo a possibilidade da liberalização das drogas. Esse meu amigo, acérrimo defensor da liberalização das drogas tout court, não aceitava, ou não entendia, o meu argumento segundo o qual uma situação dessas, a verificar-se, tornar-se-ia, a breve trecho, absolutamente insustentável. O problema, dizia eu, não está tanto na liberalização das drogas – quais drogas? - como está no uso que delas se faça. Portanto, a questão não pode ser interpretada apenas a partir da perspectiva de quem consome, mas deve também ser alvo de análise a partir da perspectiva de quem a produz e vende. Quero com isto dizer que anterior ao acto de consumir uma droga é o de a produzir e de a comercializar, sendo que a forma como uma droga por vezes me chega não tem nada que ver com a forma como eu gostaria de chegar a ela – fosse esse o caso. O negócio está montado tal como está precisamente para que não seja posto um fim ao negócio. O que está em causa no proibicionismo nunca é tanto o poder consumir como é o poder produzir. Mudar esta correlação de interesses poderia ser o fim do negócio, o que, bem vistas as coisas, seria péssimo para o consumidor. Se considerarem cínico ou capcioso este meu raciocínio, aventurem-se na leitura de Raymond Hesse, magistrado francês, nascido em Saint-Etienne no ano de 1884 e desaprecido em 1967. Bibliófilo e escritor nas horas vagas, foi autor de obras de pendor humorístico, vindas a lume em luxuosas edições, como Jules, Totor et Gustave (1914), Riquet à la Houppe et ses compagnons (1923) – com prefácio de Anatole France - e este Vauriens, Voleurs, Assassins, escrito em 1925 e publicado inicialmente na revista Les Oeuvres Nouvelles, segundo informação contida numa nota de badana na actual edição da &etc. Grandes desenhistas da época ilustraram-lhe os textos, caracterizados pela veia satírica e por um especial talento para a fabulação de cenários demonstrativos da fragilidade dos preceitos morais das sociedades burguesas. A forma como R. Hesse desmonta, em Vigaristas, Ladrões & Assassinos, as bases ético-morais das chamadas sociedades de direito, nomeadamente o estatuto conferido às instituições que nos governam, convence pela extrema simplicidade do argumento. Formulemo-lo em tom de suposição: e se, de repente, deixasse de haver crime no mundo? É isso que se sugere nesta pequena novela, dividida em X capítulos, que tem por mote uma greve geral levada a cabo pelo Sindicato dos V.L.A. (Vigaristas, Ladrões & Assassinos). Privada de vícios, a sociedade não só se afunda num tédio e numa tristeza insuportáveis como toda a sua estrutura começa a desmoronar-se pela absoluta perda de sentido. Os jornalistas, aborrecidos, ficam sem notícias para dar, o que trará consequências drásticas nas tiragens dos jornais; os juízes, desocupados, passam o tempo a fumar; os inspectores dedicam-se à manufactura de pombinhas de papel; o abade deixa de ter assunto para os seus sermões, ficando a própria religião num vazio tal que ninguém dela sente mais necessidade; as companhias de seguro abrem falência; os cidadãos ficam sem assunto que lhes permita desviar a atenção dos seus próprios «falhanços, erros e falcatruas». Disto tudo, só uma coisa se pode concluir: «O papel social do criminoso é enorme: papel moral porque serve de padrão à virtude, papel económico porque sustenta e faz viver metade do mundo, papel pitoresco porque suscitou sempre um interesse apaixonado. Se o criminoso não existisse, era preciso inventá-lo, pois ele é um dos benfeitores da humanidade sofredora» (pp. 27-28). Entretanto, ao mesmo tempo que na Sorbonne são reconhecidas as virtudes dos criminosos, é o próprio chefe do Sindicato dos V.L.A. que acaba a constatar como é fácil a vida para as pessoas honestas, tão ocupadas a verter lágrimas de crocodilo «sobre a imoralidade e o crime» quando, afinal, é este que as sustenta. Acerca da conclusão desta história, nada direi. Melhor será que a leiam e daí extraiam as vossas conclusões, sejam vosselências pessoas íntegras e de virtude ou trapaceiros da pior estirpe.sexta-feira, 29 de junho de 2007
VIGARISTAS, LADRÕES & ASSASSINOS
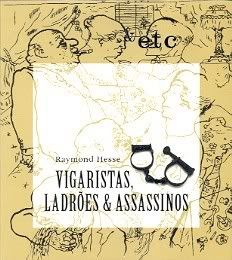 Há dias discutia com um amigo a possibilidade da liberalização das drogas. Esse meu amigo, acérrimo defensor da liberalização das drogas tout court, não aceitava, ou não entendia, o meu argumento segundo o qual uma situação dessas, a verificar-se, tornar-se-ia, a breve trecho, absolutamente insustentável. O problema, dizia eu, não está tanto na liberalização das drogas – quais drogas? - como está no uso que delas se faça. Portanto, a questão não pode ser interpretada apenas a partir da perspectiva de quem consome, mas deve também ser alvo de análise a partir da perspectiva de quem a produz e vende. Quero com isto dizer que anterior ao acto de consumir uma droga é o de a produzir e de a comercializar, sendo que a forma como uma droga por vezes me chega não tem nada que ver com a forma como eu gostaria de chegar a ela – fosse esse o caso. O negócio está montado tal como está precisamente para que não seja posto um fim ao negócio. O que está em causa no proibicionismo nunca é tanto o poder consumir como é o poder produzir. Mudar esta correlação de interesses poderia ser o fim do negócio, o que, bem vistas as coisas, seria péssimo para o consumidor. Se considerarem cínico ou capcioso este meu raciocínio, aventurem-se na leitura de Raymond Hesse, magistrado francês, nascido em Saint-Etienne no ano de 1884 e desaprecido em 1967. Bibliófilo e escritor nas horas vagas, foi autor de obras de pendor humorístico, vindas a lume em luxuosas edições, como Jules, Totor et Gustave (1914), Riquet à la Houppe et ses compagnons (1923) – com prefácio de Anatole France - e este Vauriens, Voleurs, Assassins, escrito em 1925 e publicado inicialmente na revista Les Oeuvres Nouvelles, segundo informação contida numa nota de badana na actual edição da &etc. Grandes desenhistas da época ilustraram-lhe os textos, caracterizados pela veia satírica e por um especial talento para a fabulação de cenários demonstrativos da fragilidade dos preceitos morais das sociedades burguesas. A forma como R. Hesse desmonta, em Vigaristas, Ladrões & Assassinos, as bases ético-morais das chamadas sociedades de direito, nomeadamente o estatuto conferido às instituições que nos governam, convence pela extrema simplicidade do argumento. Formulemo-lo em tom de suposição: e se, de repente, deixasse de haver crime no mundo? É isso que se sugere nesta pequena novela, dividida em X capítulos, que tem por mote uma greve geral levada a cabo pelo Sindicato dos V.L.A. (Vigaristas, Ladrões & Assassinos). Privada de vícios, a sociedade não só se afunda num tédio e numa tristeza insuportáveis como toda a sua estrutura começa a desmoronar-se pela absoluta perda de sentido. Os jornalistas, aborrecidos, ficam sem notícias para dar, o que trará consequências drásticas nas tiragens dos jornais; os juízes, desocupados, passam o tempo a fumar; os inspectores dedicam-se à manufactura de pombinhas de papel; o abade deixa de ter assunto para os seus sermões, ficando a própria religião num vazio tal que ninguém dela sente mais necessidade; as companhias de seguro abrem falência; os cidadãos ficam sem assunto que lhes permita desviar a atenção dos seus próprios «falhanços, erros e falcatruas». Disto tudo, só uma coisa se pode concluir: «O papel social do criminoso é enorme: papel moral porque serve de padrão à virtude, papel económico porque sustenta e faz viver metade do mundo, papel pitoresco porque suscitou sempre um interesse apaixonado. Se o criminoso não existisse, era preciso inventá-lo, pois ele é um dos benfeitores da humanidade sofredora» (pp. 27-28). Entretanto, ao mesmo tempo que na Sorbonne são reconhecidas as virtudes dos criminosos, é o próprio chefe do Sindicato dos V.L.A. que acaba a constatar como é fácil a vida para as pessoas honestas, tão ocupadas a verter lágrimas de crocodilo «sobre a imoralidade e o crime» quando, afinal, é este que as sustenta. Acerca da conclusão desta história, nada direi. Melhor será que a leiam e daí extraiam as vossas conclusões, sejam vosselências pessoas íntegras e de virtude ou trapaceiros da pior estirpe.
Há dias discutia com um amigo a possibilidade da liberalização das drogas. Esse meu amigo, acérrimo defensor da liberalização das drogas tout court, não aceitava, ou não entendia, o meu argumento segundo o qual uma situação dessas, a verificar-se, tornar-se-ia, a breve trecho, absolutamente insustentável. O problema, dizia eu, não está tanto na liberalização das drogas – quais drogas? - como está no uso que delas se faça. Portanto, a questão não pode ser interpretada apenas a partir da perspectiva de quem consome, mas deve também ser alvo de análise a partir da perspectiva de quem a produz e vende. Quero com isto dizer que anterior ao acto de consumir uma droga é o de a produzir e de a comercializar, sendo que a forma como uma droga por vezes me chega não tem nada que ver com a forma como eu gostaria de chegar a ela – fosse esse o caso. O negócio está montado tal como está precisamente para que não seja posto um fim ao negócio. O que está em causa no proibicionismo nunca é tanto o poder consumir como é o poder produzir. Mudar esta correlação de interesses poderia ser o fim do negócio, o que, bem vistas as coisas, seria péssimo para o consumidor. Se considerarem cínico ou capcioso este meu raciocínio, aventurem-se na leitura de Raymond Hesse, magistrado francês, nascido em Saint-Etienne no ano de 1884 e desaprecido em 1967. Bibliófilo e escritor nas horas vagas, foi autor de obras de pendor humorístico, vindas a lume em luxuosas edições, como Jules, Totor et Gustave (1914), Riquet à la Houppe et ses compagnons (1923) – com prefácio de Anatole France - e este Vauriens, Voleurs, Assassins, escrito em 1925 e publicado inicialmente na revista Les Oeuvres Nouvelles, segundo informação contida numa nota de badana na actual edição da &etc. Grandes desenhistas da época ilustraram-lhe os textos, caracterizados pela veia satírica e por um especial talento para a fabulação de cenários demonstrativos da fragilidade dos preceitos morais das sociedades burguesas. A forma como R. Hesse desmonta, em Vigaristas, Ladrões & Assassinos, as bases ético-morais das chamadas sociedades de direito, nomeadamente o estatuto conferido às instituições que nos governam, convence pela extrema simplicidade do argumento. Formulemo-lo em tom de suposição: e se, de repente, deixasse de haver crime no mundo? É isso que se sugere nesta pequena novela, dividida em X capítulos, que tem por mote uma greve geral levada a cabo pelo Sindicato dos V.L.A. (Vigaristas, Ladrões & Assassinos). Privada de vícios, a sociedade não só se afunda num tédio e numa tristeza insuportáveis como toda a sua estrutura começa a desmoronar-se pela absoluta perda de sentido. Os jornalistas, aborrecidos, ficam sem notícias para dar, o que trará consequências drásticas nas tiragens dos jornais; os juízes, desocupados, passam o tempo a fumar; os inspectores dedicam-se à manufactura de pombinhas de papel; o abade deixa de ter assunto para os seus sermões, ficando a própria religião num vazio tal que ninguém dela sente mais necessidade; as companhias de seguro abrem falência; os cidadãos ficam sem assunto que lhes permita desviar a atenção dos seus próprios «falhanços, erros e falcatruas». Disto tudo, só uma coisa se pode concluir: «O papel social do criminoso é enorme: papel moral porque serve de padrão à virtude, papel económico porque sustenta e faz viver metade do mundo, papel pitoresco porque suscitou sempre um interesse apaixonado. Se o criminoso não existisse, era preciso inventá-lo, pois ele é um dos benfeitores da humanidade sofredora» (pp. 27-28). Entretanto, ao mesmo tempo que na Sorbonne são reconhecidas as virtudes dos criminosos, é o próprio chefe do Sindicato dos V.L.A. que acaba a constatar como é fácil a vida para as pessoas honestas, tão ocupadas a verter lágrimas de crocodilo «sobre a imoralidade e o crime» quando, afinal, é este que as sustenta. Acerca da conclusão desta história, nada direi. Melhor será que a leiam e daí extraiam as vossas conclusões, sejam vosselências pessoas íntegras e de virtude ou trapaceiros da pior estirpe.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário