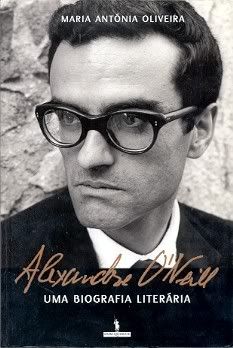 A biografia que Maria Antónia Oliveira (n. 1964) dedicou a Alexandre O’Neill (n. 1924 – m. 1986), como se costuma dizer, lê-se de um fôlego. O mérito é tanto da biógrafa como do biografado, cuja vida foi toda ela uma cinemateca de extensíssimos corredores e arquivos sem fim. Li umas quantas biografias de escritores, "alternando-se-me" o interesse entre a decepção, o enfado e a surpresa. Neste caso, não houve grandes surpresas. Conheço bem o escritor, não conhecia mal o homem – pelo menos é o que posso inferir da leitura realizada. O que não existiu de todo foram o enfado e a decepção. O’Neill não o permite, mesmo quando, vindo à superfície o seu «carácter inconstante e cruel», foi homem de fragilidades morais várias. Talvez por isso mesmo encontremos nas cartas entre Jorge de Sena e Sophia uma referência ao poeta como sendo «um homem fraco» (cito de memória). Quando o tema é política, fracos são os espíritos independentes e críticos, os irreverentes e indisciplinados, os individualistas, como Alexandre O’Neill o era, declarada e religiosamente. Não vejamos nesta atitude qualquer tipo de descomprometimento cobarde. Não. De ascendência aristocrática, Alexandre Manuel Vahia de Castro O’Neill de Bulhões, era filho de mãe católica e de pai colérico, ambos bem relacionados com o regime. Cedo o poeta reage à assoberbada burguesia familiar, inclinando-se mais para o exemplo da excêntrica avó Maria O’Neill: escritora, «sufragista, feminista, vegetariana e espírita» (p. 29). Criado no seio de uma família com tradições bibliófilas, o interesse pelos livros surge naturalmente. Tão naturalmente que nunca se deixou atrair pelo academismo, pelo estudo, pela análise minuciosa. Alexandre O’Neill foi um aluno cábula, reprovando por diversas vezes e nunca chegando a concluir quaisquer estudos de monta. Características “físicas” mais marcantes: miopia e asmático. Começa aqui a ironia. Reparem bem: a nenhum outro poeta português se podem gabar tanta argúcia no olhar e respirabilidade nos versos. Nestes, foi um exímio praticante da ironia, «fascinado pela banalidade, pelo lugar-comum» (p. 20), cultor do prosaico e do concreto, dono de «uma poesia dos ridículos sociais» (p. 203), «incapaz de escrever textos grandes» (p. 241) e, pasme-se!, realista: «eu entendo que a minha poesia tem sobretudo uma tendência realista» (p. 297). Digo pasme-se, pois é da mais vulgar cultura geral ter sido O’Neill, com Cesariny, um dos fundadores do Grupo Surrealista de Lisboa, em 1947. Verdade é também que o entusiasmo inicial rapidamente se perdeu, enrodilhado em vários desentendimentos pessoais, embirrações e zangas. Fica, deste tempo, um episódio que diz mais do homem-poeta do que, à partida, se possa imaginar. Refiro-me ao desconforto moral causado pelo facto de, necessitado de dinheiro, ter o homem “posto no prego” uma máquina fotográfica que António Pedro lhe emprestara. Cobardia moral? Definitivamente. O’Neill era um fraco, tanto quanto o são os que vivem na corda bamba, os que optam por entregar o destino das suas vidas nas suas próprias mãos, os incurvados, os rebeldes. É histórica a sua crónica falta de dinheiro, muito associada a uma vida de «cama, copos e conversa». Mas estas fraquezas não lhe impediram a consciência cívica. Terminada a aventura surrealista, volta-se para a militância política (MUD juvenil, Movimento Nacional Democrático), acabando preso, em 1953, durante vinte e um dias. Também os seus versos nunca deixaram de exprimir essa vontade de dizer, de apontar, de denunciar. Algum livro diz mais do Portugal de Salazar do que Feira Cabisbaixa? E que dizer das provocações constantes enquanto copy-writer, uma das muitas ocupações com a qual foi safando a desregra da vida? Lembremos algumas dessas provocações: «Bosch é Brom», «Com colchões Lusospuma você dá duas que parecem uma», «Vá de metro, Satanás!». Não são apenas anedotas e trocadilhos, são provocações, tiros de uma imaginação ao serviço da liberdade num tempo em que a liberdade estava impedida de servir a imaginação. Dizem que era ateu, que conciliava um lado truculento com um outro, mais caloroso, que deixava tudo para a última da hora, que não tinha feitio para trabalhos fixos e horários, que era vaidoso e angustiado, tímido, que cultivava um certo sentimento de superioridade, formal e, ao mesmo tempo, sarcástico, dizem que «não estava no seu feitio levar-se a sério» (p. 25). Excepto com as mulheres, com quem foi sempre «leviano e inconstante» (p. 193), ciumento, «machista» (p. 133). São preciosos os testemunhos de Noémia Delgado, primeira mulher, Pamela Ineichen e Laurinda Bom. Nota-se a ausência de Teresa Patrício Gouveia, com quem esteve casado entre 1971 e 1981. Mas foram muitas, como nos conta Maria Antónia Oliveira, as mulheres de O’Neill, para quem a vida de família, lembremos, «é o tablado da antropofagia». Excelente, o trabalho da biógrafa, sempre muito contida nas divagações ensaísticas, privilegiando os testemunhos orais que foi registando junto de pessoas que o conheceram. Óptima, a inclusão de alguns inéditos, as notas finais, a bibliografia, o índice onomástico. E o registo narrativo, «uma curiosa mistura de narrativa ficcional e de realidade» (p. 150), em permanente e informal diálogo com o leitor, com «o leitor mais jovem», com «leitor desapetrechado», com o leitor, mais especificamente, no feminino. Um trabalho a merecer o prémio de uma leitura atenta e da sentida satisfação proporcionada pela mesma.
A biografia que Maria Antónia Oliveira (n. 1964) dedicou a Alexandre O’Neill (n. 1924 – m. 1986), como se costuma dizer, lê-se de um fôlego. O mérito é tanto da biógrafa como do biografado, cuja vida foi toda ela uma cinemateca de extensíssimos corredores e arquivos sem fim. Li umas quantas biografias de escritores, "alternando-se-me" o interesse entre a decepção, o enfado e a surpresa. Neste caso, não houve grandes surpresas. Conheço bem o escritor, não conhecia mal o homem – pelo menos é o que posso inferir da leitura realizada. O que não existiu de todo foram o enfado e a decepção. O’Neill não o permite, mesmo quando, vindo à superfície o seu «carácter inconstante e cruel», foi homem de fragilidades morais várias. Talvez por isso mesmo encontremos nas cartas entre Jorge de Sena e Sophia uma referência ao poeta como sendo «um homem fraco» (cito de memória). Quando o tema é política, fracos são os espíritos independentes e críticos, os irreverentes e indisciplinados, os individualistas, como Alexandre O’Neill o era, declarada e religiosamente. Não vejamos nesta atitude qualquer tipo de descomprometimento cobarde. Não. De ascendência aristocrática, Alexandre Manuel Vahia de Castro O’Neill de Bulhões, era filho de mãe católica e de pai colérico, ambos bem relacionados com o regime. Cedo o poeta reage à assoberbada burguesia familiar, inclinando-se mais para o exemplo da excêntrica avó Maria O’Neill: escritora, «sufragista, feminista, vegetariana e espírita» (p. 29). Criado no seio de uma família com tradições bibliófilas, o interesse pelos livros surge naturalmente. Tão naturalmente que nunca se deixou atrair pelo academismo, pelo estudo, pela análise minuciosa. Alexandre O’Neill foi um aluno cábula, reprovando por diversas vezes e nunca chegando a concluir quaisquer estudos de monta. Características “físicas” mais marcantes: miopia e asmático. Começa aqui a ironia. Reparem bem: a nenhum outro poeta português se podem gabar tanta argúcia no olhar e respirabilidade nos versos. Nestes, foi um exímio praticante da ironia, «fascinado pela banalidade, pelo lugar-comum» (p. 20), cultor do prosaico e do concreto, dono de «uma poesia dos ridículos sociais» (p. 203), «incapaz de escrever textos grandes» (p. 241) e, pasme-se!, realista: «eu entendo que a minha poesia tem sobretudo uma tendência realista» (p. 297). Digo pasme-se, pois é da mais vulgar cultura geral ter sido O’Neill, com Cesariny, um dos fundadores do Grupo Surrealista de Lisboa, em 1947. Verdade é também que o entusiasmo inicial rapidamente se perdeu, enrodilhado em vários desentendimentos pessoais, embirrações e zangas. Fica, deste tempo, um episódio que diz mais do homem-poeta do que, à partida, se possa imaginar. Refiro-me ao desconforto moral causado pelo facto de, necessitado de dinheiro, ter o homem “posto no prego” uma máquina fotográfica que António Pedro lhe emprestara. Cobardia moral? Definitivamente. O’Neill era um fraco, tanto quanto o são os que vivem na corda bamba, os que optam por entregar o destino das suas vidas nas suas próprias mãos, os incurvados, os rebeldes. É histórica a sua crónica falta de dinheiro, muito associada a uma vida de «cama, copos e conversa». Mas estas fraquezas não lhe impediram a consciência cívica. Terminada a aventura surrealista, volta-se para a militância política (MUD juvenil, Movimento Nacional Democrático), acabando preso, em 1953, durante vinte e um dias. Também os seus versos nunca deixaram de exprimir essa vontade de dizer, de apontar, de denunciar. Algum livro diz mais do Portugal de Salazar do que Feira Cabisbaixa? E que dizer das provocações constantes enquanto copy-writer, uma das muitas ocupações com a qual foi safando a desregra da vida? Lembremos algumas dessas provocações: «Bosch é Brom», «Com colchões Lusospuma você dá duas que parecem uma», «Vá de metro, Satanás!». Não são apenas anedotas e trocadilhos, são provocações, tiros de uma imaginação ao serviço da liberdade num tempo em que a liberdade estava impedida de servir a imaginação. Dizem que era ateu, que conciliava um lado truculento com um outro, mais caloroso, que deixava tudo para a última da hora, que não tinha feitio para trabalhos fixos e horários, que era vaidoso e angustiado, tímido, que cultivava um certo sentimento de superioridade, formal e, ao mesmo tempo, sarcástico, dizem que «não estava no seu feitio levar-se a sério» (p. 25). Excepto com as mulheres, com quem foi sempre «leviano e inconstante» (p. 193), ciumento, «machista» (p. 133). São preciosos os testemunhos de Noémia Delgado, primeira mulher, Pamela Ineichen e Laurinda Bom. Nota-se a ausência de Teresa Patrício Gouveia, com quem esteve casado entre 1971 e 1981. Mas foram muitas, como nos conta Maria Antónia Oliveira, as mulheres de O’Neill, para quem a vida de família, lembremos, «é o tablado da antropofagia». Excelente, o trabalho da biógrafa, sempre muito contida nas divagações ensaísticas, privilegiando os testemunhos orais que foi registando junto de pessoas que o conheceram. Óptima, a inclusão de alguns inéditos, as notas finais, a bibliografia, o índice onomástico. E o registo narrativo, «uma curiosa mistura de narrativa ficcional e de realidade» (p. 150), em permanente e informal diálogo com o leitor, com «o leitor mais jovem», com «leitor desapetrechado», com o leitor, mais especificamente, no feminino. Um trabalho a merecer o prémio de uma leitura atenta e da sentida satisfação proporcionada pela mesma.domingo, 22 de julho de 2007
UMA BIOGRAFIA LITERÁRIA
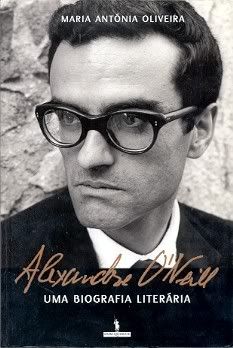 A biografia que Maria Antónia Oliveira (n. 1964) dedicou a Alexandre O’Neill (n. 1924 – m. 1986), como se costuma dizer, lê-se de um fôlego. O mérito é tanto da biógrafa como do biografado, cuja vida foi toda ela uma cinemateca de extensíssimos corredores e arquivos sem fim. Li umas quantas biografias de escritores, "alternando-se-me" o interesse entre a decepção, o enfado e a surpresa. Neste caso, não houve grandes surpresas. Conheço bem o escritor, não conhecia mal o homem – pelo menos é o que posso inferir da leitura realizada. O que não existiu de todo foram o enfado e a decepção. O’Neill não o permite, mesmo quando, vindo à superfície o seu «carácter inconstante e cruel», foi homem de fragilidades morais várias. Talvez por isso mesmo encontremos nas cartas entre Jorge de Sena e Sophia uma referência ao poeta como sendo «um homem fraco» (cito de memória). Quando o tema é política, fracos são os espíritos independentes e críticos, os irreverentes e indisciplinados, os individualistas, como Alexandre O’Neill o era, declarada e religiosamente. Não vejamos nesta atitude qualquer tipo de descomprometimento cobarde. Não. De ascendência aristocrática, Alexandre Manuel Vahia de Castro O’Neill de Bulhões, era filho de mãe católica e de pai colérico, ambos bem relacionados com o regime. Cedo o poeta reage à assoberbada burguesia familiar, inclinando-se mais para o exemplo da excêntrica avó Maria O’Neill: escritora, «sufragista, feminista, vegetariana e espírita» (p. 29). Criado no seio de uma família com tradições bibliófilas, o interesse pelos livros surge naturalmente. Tão naturalmente que nunca se deixou atrair pelo academismo, pelo estudo, pela análise minuciosa. Alexandre O’Neill foi um aluno cábula, reprovando por diversas vezes e nunca chegando a concluir quaisquer estudos de monta. Características “físicas” mais marcantes: miopia e asmático. Começa aqui a ironia. Reparem bem: a nenhum outro poeta português se podem gabar tanta argúcia no olhar e respirabilidade nos versos. Nestes, foi um exímio praticante da ironia, «fascinado pela banalidade, pelo lugar-comum» (p. 20), cultor do prosaico e do concreto, dono de «uma poesia dos ridículos sociais» (p. 203), «incapaz de escrever textos grandes» (p. 241) e, pasme-se!, realista: «eu entendo que a minha poesia tem sobretudo uma tendência realista» (p. 297). Digo pasme-se, pois é da mais vulgar cultura geral ter sido O’Neill, com Cesariny, um dos fundadores do Grupo Surrealista de Lisboa, em 1947. Verdade é também que o entusiasmo inicial rapidamente se perdeu, enrodilhado em vários desentendimentos pessoais, embirrações e zangas. Fica, deste tempo, um episódio que diz mais do homem-poeta do que, à partida, se possa imaginar. Refiro-me ao desconforto moral causado pelo facto de, necessitado de dinheiro, ter o homem “posto no prego” uma máquina fotográfica que António Pedro lhe emprestara. Cobardia moral? Definitivamente. O’Neill era um fraco, tanto quanto o são os que vivem na corda bamba, os que optam por entregar o destino das suas vidas nas suas próprias mãos, os incurvados, os rebeldes. É histórica a sua crónica falta de dinheiro, muito associada a uma vida de «cama, copos e conversa». Mas estas fraquezas não lhe impediram a consciência cívica. Terminada a aventura surrealista, volta-se para a militância política (MUD juvenil, Movimento Nacional Democrático), acabando preso, em 1953, durante vinte e um dias. Também os seus versos nunca deixaram de exprimir essa vontade de dizer, de apontar, de denunciar. Algum livro diz mais do Portugal de Salazar do que Feira Cabisbaixa? E que dizer das provocações constantes enquanto copy-writer, uma das muitas ocupações com a qual foi safando a desregra da vida? Lembremos algumas dessas provocações: «Bosch é Brom», «Com colchões Lusospuma você dá duas que parecem uma», «Vá de metro, Satanás!». Não são apenas anedotas e trocadilhos, são provocações, tiros de uma imaginação ao serviço da liberdade num tempo em que a liberdade estava impedida de servir a imaginação. Dizem que era ateu, que conciliava um lado truculento com um outro, mais caloroso, que deixava tudo para a última da hora, que não tinha feitio para trabalhos fixos e horários, que era vaidoso e angustiado, tímido, que cultivava um certo sentimento de superioridade, formal e, ao mesmo tempo, sarcástico, dizem que «não estava no seu feitio levar-se a sério» (p. 25). Excepto com as mulheres, com quem foi sempre «leviano e inconstante» (p. 193), ciumento, «machista» (p. 133). São preciosos os testemunhos de Noémia Delgado, primeira mulher, Pamela Ineichen e Laurinda Bom. Nota-se a ausência de Teresa Patrício Gouveia, com quem esteve casado entre 1971 e 1981. Mas foram muitas, como nos conta Maria Antónia Oliveira, as mulheres de O’Neill, para quem a vida de família, lembremos, «é o tablado da antropofagia». Excelente, o trabalho da biógrafa, sempre muito contida nas divagações ensaísticas, privilegiando os testemunhos orais que foi registando junto de pessoas que o conheceram. Óptima, a inclusão de alguns inéditos, as notas finais, a bibliografia, o índice onomástico. E o registo narrativo, «uma curiosa mistura de narrativa ficcional e de realidade» (p. 150), em permanente e informal diálogo com o leitor, com «o leitor mais jovem», com «leitor desapetrechado», com o leitor, mais especificamente, no feminino. Um trabalho a merecer o prémio de uma leitura atenta e da sentida satisfação proporcionada pela mesma.
A biografia que Maria Antónia Oliveira (n. 1964) dedicou a Alexandre O’Neill (n. 1924 – m. 1986), como se costuma dizer, lê-se de um fôlego. O mérito é tanto da biógrafa como do biografado, cuja vida foi toda ela uma cinemateca de extensíssimos corredores e arquivos sem fim. Li umas quantas biografias de escritores, "alternando-se-me" o interesse entre a decepção, o enfado e a surpresa. Neste caso, não houve grandes surpresas. Conheço bem o escritor, não conhecia mal o homem – pelo menos é o que posso inferir da leitura realizada. O que não existiu de todo foram o enfado e a decepção. O’Neill não o permite, mesmo quando, vindo à superfície o seu «carácter inconstante e cruel», foi homem de fragilidades morais várias. Talvez por isso mesmo encontremos nas cartas entre Jorge de Sena e Sophia uma referência ao poeta como sendo «um homem fraco» (cito de memória). Quando o tema é política, fracos são os espíritos independentes e críticos, os irreverentes e indisciplinados, os individualistas, como Alexandre O’Neill o era, declarada e religiosamente. Não vejamos nesta atitude qualquer tipo de descomprometimento cobarde. Não. De ascendência aristocrática, Alexandre Manuel Vahia de Castro O’Neill de Bulhões, era filho de mãe católica e de pai colérico, ambos bem relacionados com o regime. Cedo o poeta reage à assoberbada burguesia familiar, inclinando-se mais para o exemplo da excêntrica avó Maria O’Neill: escritora, «sufragista, feminista, vegetariana e espírita» (p. 29). Criado no seio de uma família com tradições bibliófilas, o interesse pelos livros surge naturalmente. Tão naturalmente que nunca se deixou atrair pelo academismo, pelo estudo, pela análise minuciosa. Alexandre O’Neill foi um aluno cábula, reprovando por diversas vezes e nunca chegando a concluir quaisquer estudos de monta. Características “físicas” mais marcantes: miopia e asmático. Começa aqui a ironia. Reparem bem: a nenhum outro poeta português se podem gabar tanta argúcia no olhar e respirabilidade nos versos. Nestes, foi um exímio praticante da ironia, «fascinado pela banalidade, pelo lugar-comum» (p. 20), cultor do prosaico e do concreto, dono de «uma poesia dos ridículos sociais» (p. 203), «incapaz de escrever textos grandes» (p. 241) e, pasme-se!, realista: «eu entendo que a minha poesia tem sobretudo uma tendência realista» (p. 297). Digo pasme-se, pois é da mais vulgar cultura geral ter sido O’Neill, com Cesariny, um dos fundadores do Grupo Surrealista de Lisboa, em 1947. Verdade é também que o entusiasmo inicial rapidamente se perdeu, enrodilhado em vários desentendimentos pessoais, embirrações e zangas. Fica, deste tempo, um episódio que diz mais do homem-poeta do que, à partida, se possa imaginar. Refiro-me ao desconforto moral causado pelo facto de, necessitado de dinheiro, ter o homem “posto no prego” uma máquina fotográfica que António Pedro lhe emprestara. Cobardia moral? Definitivamente. O’Neill era um fraco, tanto quanto o são os que vivem na corda bamba, os que optam por entregar o destino das suas vidas nas suas próprias mãos, os incurvados, os rebeldes. É histórica a sua crónica falta de dinheiro, muito associada a uma vida de «cama, copos e conversa». Mas estas fraquezas não lhe impediram a consciência cívica. Terminada a aventura surrealista, volta-se para a militância política (MUD juvenil, Movimento Nacional Democrático), acabando preso, em 1953, durante vinte e um dias. Também os seus versos nunca deixaram de exprimir essa vontade de dizer, de apontar, de denunciar. Algum livro diz mais do Portugal de Salazar do que Feira Cabisbaixa? E que dizer das provocações constantes enquanto copy-writer, uma das muitas ocupações com a qual foi safando a desregra da vida? Lembremos algumas dessas provocações: «Bosch é Brom», «Com colchões Lusospuma você dá duas que parecem uma», «Vá de metro, Satanás!». Não são apenas anedotas e trocadilhos, são provocações, tiros de uma imaginação ao serviço da liberdade num tempo em que a liberdade estava impedida de servir a imaginação. Dizem que era ateu, que conciliava um lado truculento com um outro, mais caloroso, que deixava tudo para a última da hora, que não tinha feitio para trabalhos fixos e horários, que era vaidoso e angustiado, tímido, que cultivava um certo sentimento de superioridade, formal e, ao mesmo tempo, sarcástico, dizem que «não estava no seu feitio levar-se a sério» (p. 25). Excepto com as mulheres, com quem foi sempre «leviano e inconstante» (p. 193), ciumento, «machista» (p. 133). São preciosos os testemunhos de Noémia Delgado, primeira mulher, Pamela Ineichen e Laurinda Bom. Nota-se a ausência de Teresa Patrício Gouveia, com quem esteve casado entre 1971 e 1981. Mas foram muitas, como nos conta Maria Antónia Oliveira, as mulheres de O’Neill, para quem a vida de família, lembremos, «é o tablado da antropofagia». Excelente, o trabalho da biógrafa, sempre muito contida nas divagações ensaísticas, privilegiando os testemunhos orais que foi registando junto de pessoas que o conheceram. Óptima, a inclusão de alguns inéditos, as notas finais, a bibliografia, o índice onomástico. E o registo narrativo, «uma curiosa mistura de narrativa ficcional e de realidade» (p. 150), em permanente e informal diálogo com o leitor, com «o leitor mais jovem», com «leitor desapetrechado», com o leitor, mais especificamente, no feminino. Um trabalho a merecer o prémio de uma leitura atenta e da sentida satisfação proporcionada pela mesma.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário