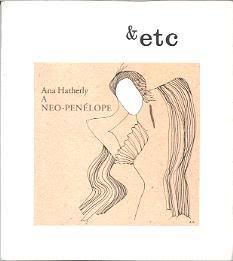 Em entrevista recentemente publicada no Diário de Notícias, Ana Hatherly (n. 1929) afirma que «o poeta, como emblema do criador, persegue todos os símbolos, todos os vestígios, ou seja, toda a memória que corre no seu sangue, e para além do espelho inventa o inaudito». No seu livro mais recente, a esposa de Ulisses, enquanto símbolo de uma certa condição feminina, é perseguida e reinventada. Talvez mais que reinventada, seja esta fiel e extremosa esposa desconstruída: «Não tece a tela / Não fia o fio / Não espera / Por nenhum Ulisses» (p. 15). Hatherly, nome que ficará inevitavelmente na história da literatura portuguesa, mais que não seja pelo pioneirismo na exploração de linguagens poéticas menos comuns, da poesia experimental ao barroco, passando pelas formas poéticas enraizadas nas filosofia e cultura orientais, propõe-nos em A Neo-Penélope uma revisão dos códigos que ainda hoje delimitam o modo como a feminilidade é perspectivada. Três conjuntos de poemas compõem a obra: Poemas Femininos, Alice no País dos Anões, Epigramas e Sátiras. A ligá-los encontramos essa intenção de repensar o feminino, quer a partir de simbologias instituídas – do mito de Penélope à fantasia de Alice -, quer através de um olhar minuciosamente irónico e satírico sobre a actualidade. Talvez não seja descuidado, provavelmente contra a vontade da autora, falarmos de um certo tipo de feminismo que sobressai nestes poemas, embora mais correcto seja falarmos antes de um olhar lúcido e consciente sobre a condição das mulheres ao longo dos tempos. Até porque mais do que reivindicarem uma aproximação entre os géneros, os poemas de A Neo-Penélope sublinham a especificidade de ser(-se) mulher: «A mulher é e não é / A campeã das gatas: / Pode encolher as unhas (ou não) / Mas o seu arco-íris da invenção / Exige mais do que / Um tapete de peluche / Para o ron-ron» (p. 13). O tom, geralmente irónico, permite à poetisa colocar-se no papel de uma Penélope que espera por algo que nos escapa. Não sabemos por quem espera ou por que espera, sabemos apenas que espera um outro, um TU ou, na sua forma mais paradoxal, um TU-EU, anunciados precisamente em maiúsculas. Este TU, dificilmente alcançável, impedido por uma espécie de reclusão interior, intimamente conflituosa e aparentemente insanável, surge-nos também como objecto amoroso. Deste modo, o amor é, no tempo e no espaço da neo-Penélope, uma força do desejo que o corpo indaga, uma aposta nem sempre ganha mas absolutamente fundamental. Leia-se, a título de exemplo, este perturbante Sem Amor: «Viver sem amor / É como não ter para onde ir / Em nenhum lugar / Encontrar casa ou mundo // É contemplar o não-acontecer / O lugar onde tudo já não é / Onde tudo se transforma / No recinto / De onde tudo se mudou // Sem amor andamos errantes / De nós mesmos desconhecidos // Descobrimos que nunca se tem ninguém / Além de nós próprios / E nem isso se tem» (p. 26). O que de algum modo é recusado é a subversão do papel do amor. O amor não implica uma entrega incondicional e passiva, ele não admite a atitude submissa que, para mal dos nossos pecados, foi desde sempre incutida na mulher que espera (ou deve esperar), na mulher que se entrega (porque é seu dever entregar-se), na mulher educada para prescindir de si própria em função do homem que ama. Ao longo da história da humanidade, o papel atribuído à mulher foi, quase sempre, o de uma inaceitável submissão. Por vezes, essa submissão aconteceu em nome do amor, como se o amor pudesse ser uma força que escraviza ao contrário de uma força que liberta. Urge subverter tais paradigmas, quebrar as regras já não num mundo de sonho, como sucede com Alice, mas na própria realidade. Alice é um pretexto, um protótipo do feminino que encerra uma invenção, uma felicidade onírica, improvável, a mulher que não existe num país inexistente, o país das maravilhas. Alice é o feminino projectado a partir das aspirações masculinas numa sociedade erigida sobre princípios arcaicamente machistas, Alice é, mais que uma mulher a sonhar, o sonho de um homem.
Em entrevista recentemente publicada no Diário de Notícias, Ana Hatherly (n. 1929) afirma que «o poeta, como emblema do criador, persegue todos os símbolos, todos os vestígios, ou seja, toda a memória que corre no seu sangue, e para além do espelho inventa o inaudito». No seu livro mais recente, a esposa de Ulisses, enquanto símbolo de uma certa condição feminina, é perseguida e reinventada. Talvez mais que reinventada, seja esta fiel e extremosa esposa desconstruída: «Não tece a tela / Não fia o fio / Não espera / Por nenhum Ulisses» (p. 15). Hatherly, nome que ficará inevitavelmente na história da literatura portuguesa, mais que não seja pelo pioneirismo na exploração de linguagens poéticas menos comuns, da poesia experimental ao barroco, passando pelas formas poéticas enraizadas nas filosofia e cultura orientais, propõe-nos em A Neo-Penélope uma revisão dos códigos que ainda hoje delimitam o modo como a feminilidade é perspectivada. Três conjuntos de poemas compõem a obra: Poemas Femininos, Alice no País dos Anões, Epigramas e Sátiras. A ligá-los encontramos essa intenção de repensar o feminino, quer a partir de simbologias instituídas – do mito de Penélope à fantasia de Alice -, quer através de um olhar minuciosamente irónico e satírico sobre a actualidade. Talvez não seja descuidado, provavelmente contra a vontade da autora, falarmos de um certo tipo de feminismo que sobressai nestes poemas, embora mais correcto seja falarmos antes de um olhar lúcido e consciente sobre a condição das mulheres ao longo dos tempos. Até porque mais do que reivindicarem uma aproximação entre os géneros, os poemas de A Neo-Penélope sublinham a especificidade de ser(-se) mulher: «A mulher é e não é / A campeã das gatas: / Pode encolher as unhas (ou não) / Mas o seu arco-íris da invenção / Exige mais do que / Um tapete de peluche / Para o ron-ron» (p. 13). O tom, geralmente irónico, permite à poetisa colocar-se no papel de uma Penélope que espera por algo que nos escapa. Não sabemos por quem espera ou por que espera, sabemos apenas que espera um outro, um TU ou, na sua forma mais paradoxal, um TU-EU, anunciados precisamente em maiúsculas. Este TU, dificilmente alcançável, impedido por uma espécie de reclusão interior, intimamente conflituosa e aparentemente insanável, surge-nos também como objecto amoroso. Deste modo, o amor é, no tempo e no espaço da neo-Penélope, uma força do desejo que o corpo indaga, uma aposta nem sempre ganha mas absolutamente fundamental. Leia-se, a título de exemplo, este perturbante Sem Amor: «Viver sem amor / É como não ter para onde ir / Em nenhum lugar / Encontrar casa ou mundo // É contemplar o não-acontecer / O lugar onde tudo já não é / Onde tudo se transforma / No recinto / De onde tudo se mudou // Sem amor andamos errantes / De nós mesmos desconhecidos // Descobrimos que nunca se tem ninguém / Além de nós próprios / E nem isso se tem» (p. 26). O que de algum modo é recusado é a subversão do papel do amor. O amor não implica uma entrega incondicional e passiva, ele não admite a atitude submissa que, para mal dos nossos pecados, foi desde sempre incutida na mulher que espera (ou deve esperar), na mulher que se entrega (porque é seu dever entregar-se), na mulher educada para prescindir de si própria em função do homem que ama. Ao longo da história da humanidade, o papel atribuído à mulher foi, quase sempre, o de uma inaceitável submissão. Por vezes, essa submissão aconteceu em nome do amor, como se o amor pudesse ser uma força que escraviza ao contrário de uma força que liberta. Urge subverter tais paradigmas, quebrar as regras já não num mundo de sonho, como sucede com Alice, mas na própria realidade. Alice é um pretexto, um protótipo do feminino que encerra uma invenção, uma felicidade onírica, improvável, a mulher que não existe num país inexistente, o país das maravilhas. Alice é o feminino projectado a partir das aspirações masculinas numa sociedade erigida sobre princípios arcaicamente machistas, Alice é, mais que uma mulher a sonhar, o sonho de um homem.sexta-feira, 21 de março de 2008
A NEO-PENÉLOPE
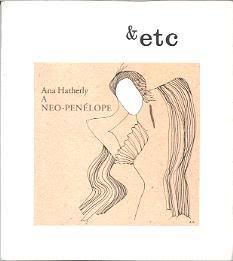 Em entrevista recentemente publicada no Diário de Notícias, Ana Hatherly (n. 1929) afirma que «o poeta, como emblema do criador, persegue todos os símbolos, todos os vestígios, ou seja, toda a memória que corre no seu sangue, e para além do espelho inventa o inaudito». No seu livro mais recente, a esposa de Ulisses, enquanto símbolo de uma certa condição feminina, é perseguida e reinventada. Talvez mais que reinventada, seja esta fiel e extremosa esposa desconstruída: «Não tece a tela / Não fia o fio / Não espera / Por nenhum Ulisses» (p. 15). Hatherly, nome que ficará inevitavelmente na história da literatura portuguesa, mais que não seja pelo pioneirismo na exploração de linguagens poéticas menos comuns, da poesia experimental ao barroco, passando pelas formas poéticas enraizadas nas filosofia e cultura orientais, propõe-nos em A Neo-Penélope uma revisão dos códigos que ainda hoje delimitam o modo como a feminilidade é perspectivada. Três conjuntos de poemas compõem a obra: Poemas Femininos, Alice no País dos Anões, Epigramas e Sátiras. A ligá-los encontramos essa intenção de repensar o feminino, quer a partir de simbologias instituídas – do mito de Penélope à fantasia de Alice -, quer através de um olhar minuciosamente irónico e satírico sobre a actualidade. Talvez não seja descuidado, provavelmente contra a vontade da autora, falarmos de um certo tipo de feminismo que sobressai nestes poemas, embora mais correcto seja falarmos antes de um olhar lúcido e consciente sobre a condição das mulheres ao longo dos tempos. Até porque mais do que reivindicarem uma aproximação entre os géneros, os poemas de A Neo-Penélope sublinham a especificidade de ser(-se) mulher: «A mulher é e não é / A campeã das gatas: / Pode encolher as unhas (ou não) / Mas o seu arco-íris da invenção / Exige mais do que / Um tapete de peluche / Para o ron-ron» (p. 13). O tom, geralmente irónico, permite à poetisa colocar-se no papel de uma Penélope que espera por algo que nos escapa. Não sabemos por quem espera ou por que espera, sabemos apenas que espera um outro, um TU ou, na sua forma mais paradoxal, um TU-EU, anunciados precisamente em maiúsculas. Este TU, dificilmente alcançável, impedido por uma espécie de reclusão interior, intimamente conflituosa e aparentemente insanável, surge-nos também como objecto amoroso. Deste modo, o amor é, no tempo e no espaço da neo-Penélope, uma força do desejo que o corpo indaga, uma aposta nem sempre ganha mas absolutamente fundamental. Leia-se, a título de exemplo, este perturbante Sem Amor: «Viver sem amor / É como não ter para onde ir / Em nenhum lugar / Encontrar casa ou mundo // É contemplar o não-acontecer / O lugar onde tudo já não é / Onde tudo se transforma / No recinto / De onde tudo se mudou // Sem amor andamos errantes / De nós mesmos desconhecidos // Descobrimos que nunca se tem ninguém / Além de nós próprios / E nem isso se tem» (p. 26). O que de algum modo é recusado é a subversão do papel do amor. O amor não implica uma entrega incondicional e passiva, ele não admite a atitude submissa que, para mal dos nossos pecados, foi desde sempre incutida na mulher que espera (ou deve esperar), na mulher que se entrega (porque é seu dever entregar-se), na mulher educada para prescindir de si própria em função do homem que ama. Ao longo da história da humanidade, o papel atribuído à mulher foi, quase sempre, o de uma inaceitável submissão. Por vezes, essa submissão aconteceu em nome do amor, como se o amor pudesse ser uma força que escraviza ao contrário de uma força que liberta. Urge subverter tais paradigmas, quebrar as regras já não num mundo de sonho, como sucede com Alice, mas na própria realidade. Alice é um pretexto, um protótipo do feminino que encerra uma invenção, uma felicidade onírica, improvável, a mulher que não existe num país inexistente, o país das maravilhas. Alice é o feminino projectado a partir das aspirações masculinas numa sociedade erigida sobre princípios arcaicamente machistas, Alice é, mais que uma mulher a sonhar, o sonho de um homem.
Em entrevista recentemente publicada no Diário de Notícias, Ana Hatherly (n. 1929) afirma que «o poeta, como emblema do criador, persegue todos os símbolos, todos os vestígios, ou seja, toda a memória que corre no seu sangue, e para além do espelho inventa o inaudito». No seu livro mais recente, a esposa de Ulisses, enquanto símbolo de uma certa condição feminina, é perseguida e reinventada. Talvez mais que reinventada, seja esta fiel e extremosa esposa desconstruída: «Não tece a tela / Não fia o fio / Não espera / Por nenhum Ulisses» (p. 15). Hatherly, nome que ficará inevitavelmente na história da literatura portuguesa, mais que não seja pelo pioneirismo na exploração de linguagens poéticas menos comuns, da poesia experimental ao barroco, passando pelas formas poéticas enraizadas nas filosofia e cultura orientais, propõe-nos em A Neo-Penélope uma revisão dos códigos que ainda hoje delimitam o modo como a feminilidade é perspectivada. Três conjuntos de poemas compõem a obra: Poemas Femininos, Alice no País dos Anões, Epigramas e Sátiras. A ligá-los encontramos essa intenção de repensar o feminino, quer a partir de simbologias instituídas – do mito de Penélope à fantasia de Alice -, quer através de um olhar minuciosamente irónico e satírico sobre a actualidade. Talvez não seja descuidado, provavelmente contra a vontade da autora, falarmos de um certo tipo de feminismo que sobressai nestes poemas, embora mais correcto seja falarmos antes de um olhar lúcido e consciente sobre a condição das mulheres ao longo dos tempos. Até porque mais do que reivindicarem uma aproximação entre os géneros, os poemas de A Neo-Penélope sublinham a especificidade de ser(-se) mulher: «A mulher é e não é / A campeã das gatas: / Pode encolher as unhas (ou não) / Mas o seu arco-íris da invenção / Exige mais do que / Um tapete de peluche / Para o ron-ron» (p. 13). O tom, geralmente irónico, permite à poetisa colocar-se no papel de uma Penélope que espera por algo que nos escapa. Não sabemos por quem espera ou por que espera, sabemos apenas que espera um outro, um TU ou, na sua forma mais paradoxal, um TU-EU, anunciados precisamente em maiúsculas. Este TU, dificilmente alcançável, impedido por uma espécie de reclusão interior, intimamente conflituosa e aparentemente insanável, surge-nos também como objecto amoroso. Deste modo, o amor é, no tempo e no espaço da neo-Penélope, uma força do desejo que o corpo indaga, uma aposta nem sempre ganha mas absolutamente fundamental. Leia-se, a título de exemplo, este perturbante Sem Amor: «Viver sem amor / É como não ter para onde ir / Em nenhum lugar / Encontrar casa ou mundo // É contemplar o não-acontecer / O lugar onde tudo já não é / Onde tudo se transforma / No recinto / De onde tudo se mudou // Sem amor andamos errantes / De nós mesmos desconhecidos // Descobrimos que nunca se tem ninguém / Além de nós próprios / E nem isso se tem» (p. 26). O que de algum modo é recusado é a subversão do papel do amor. O amor não implica uma entrega incondicional e passiva, ele não admite a atitude submissa que, para mal dos nossos pecados, foi desde sempre incutida na mulher que espera (ou deve esperar), na mulher que se entrega (porque é seu dever entregar-se), na mulher educada para prescindir de si própria em função do homem que ama. Ao longo da história da humanidade, o papel atribuído à mulher foi, quase sempre, o de uma inaceitável submissão. Por vezes, essa submissão aconteceu em nome do amor, como se o amor pudesse ser uma força que escraviza ao contrário de uma força que liberta. Urge subverter tais paradigmas, quebrar as regras já não num mundo de sonho, como sucede com Alice, mas na própria realidade. Alice é um pretexto, um protótipo do feminino que encerra uma invenção, uma felicidade onírica, improvável, a mulher que não existe num país inexistente, o país das maravilhas. Alice é o feminino projectado a partir das aspirações masculinas numa sociedade erigida sobre princípios arcaicamente machistas, Alice é, mais que uma mulher a sonhar, o sonho de um homem.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário